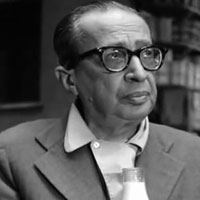A biologização do social
Publicado em 07/07/96 no caderno Mais! da Folha de São Paulo.
O mundo moderno define a relação das antigas sociedades com a natureza como irracional. A noção de que montanhas e rios, animais e plantas possuam alma parece à consciência moderna tão feérica quanto a idéia de que alguém possa ser enfeitiçado pela magia. Max Weber, como se sabe, falou por isso do “desencantamento do mundo” pela razão do Iluminismo, pela racionalidade da ciência e da técnica.
Ora, essa contraposição entre racionalidade moderna e irracionalidade pré-moderna no trato com a natureza é por demais simplista. Primeiro, as antigas sociedades não eram de todo irracionais em seu “processo de troca material com a natureza” (Marx), pois afinal tinham de prover seu sustento. Além disso, elas criaram artefatos admiráveis e legaram conhecimentos dos quais os próprios modernos ainda se valem. Segundo, a sociedade moderna não se pauta, por outro lado, pela estrita racionalidade face a objetos naturais. A escala em que o atual modo de produção destrói seus próprios fundamentos naturais de vida nos deixa em dúvida sobre a afirmação de Max Weber.
Deveríamos antes nos reportar a um “segundo desencantamento” do mundo pela sociedade moderna. Tal desencantamento, de fato, ultrapassa todos os anteriores, pois sua pretensão mágica é total e inconsiderada. A cisão dos sentimentos, das experiências sensíveis e dos sonhos pela razão abstrata deu origem a uma esfera de “irracionalismo” divorciada dos fins e idéias racionais _e isso tanto nos indivíduos como na sociedade em geral. A própria razão abstrata autonomizada é apenas em seus meios racional, não em seu fim.
Esse fim é a “economização” do homem e da natureza sob os ditames da moeda, que por sua vez não tem procedência racional, mas mágica. Não somente as relações sociais da modernidade são transpassadas pela moderna magia da moeda e seu irracional fim em si mesmo, mas também a própria ciência e técnica modernas. A racionalidade instrumental da consciência economizada corre portanto o eterno perigo de transformar-se em afetos irracionais.
Tal irracionalismo moderno não se dá a conhecer sob a mera roupagem de movimentos religiosos, mas muitas vezes sob a figura racional de idéias políticas de fachada e até mesmo como pretenso conhecimento científico.
Essa correlação é expressa da maneira mais nítida quando a sociedade humana e a história são reduzidas a objetos seminaturais. Ora, se a natureza é em si mais do que aparenta ser ao olhar objetivador do cientista natural, o homem também, por sua vez, é mais do que a simples natureza, pois de outro modo ele seria incapaz de concebê-la.
O reducionismo das ciências naturais só pode conhecer a natureza unilateralmente; a sociedade humana, todavia, é por ele inteiramente ignorada. A aparente objetividade da racionalidade científica vem a lume como selvagem irracionalismo, tão logo procure dissolver as relações sociais em fatores semifísicos ou semibiológicos.
Mas é exatamente a esse reducionismo que tende a ciência moderna. Incapaz de solucionar as questões “metafísicas”, ela lançou a filosofia à lata de lixo da história das idéias. O filosófico e revolucionário século 18 ainda arquitetara uma reflexão crítica temerária, no fito de conferir certa legitimação à nascente sociedade capitalista. Já o século 19, como o “século das ciências naturais”, buscou por seu turno aparar as garras da teoria social e aplacar a sua mordacidade com doutrinas pseudocientíficas. Numa época de miséria renitente e massificada, urgia emprestar ao capitalismo a dignidade de leis naturais para torná-lo invulnerável e arrebatá-lo ao contexto histórico. Assim, a economia tornou-se a “física” do mercado total e suas supostas leis eternas, e a sociologia passou a conceber a si mesma como a “biologia” das relações sociais, a fim de acobertar as contradições sociais da modernidade sob o manto de necessidades naturais.
A concorrência universal entre indivíduos, grupos sociais e nações, do modo como resultou do capitalismo, ganhou cada vez mais uma interpretação biológica com respaldo em tais ideologias “científicas”. O conde de Gobineau, diplomata francês, criou as chamadas “raças” da humanidade e elaborou uma teoria sobre suas desigualdades “naturais” _evidentemente uma legitimação pseudocientífica do colonialismo europeu, cujo império sobre a população de cor cabia fundamentar com base na pretensa superioridade biológica da “raça branca”.
Quando Darwin descobriu a história da evolução biológica, sua teoria da seleção natural na “luta pela existência” foi logo transposta à sociedade humana. O próprio Darwin não deixou de tomar partido. Em algumas de suas cartas, ele recriminava o então incipiente movimento sindical, uma vez que suas exigências por solidariedade atravancavam o processo de seleção natural e oneravam a sociedade com espécimes exangues e inaptos à concorrência.
Esse darwinismo social mantinha um vínculo obsceno com a “física” do mercado. Ao fim do século 19, somou-se a eles a chamada eugenia ou “higiene racial”, que apregoava a transmissão hereditária de qualidades sociais. As camadas inferiores de criminosos e desclassificados ganharam a pecha de homens “hereditariamente inferiores”, a quem se devia coibir a reprodução. No reverso da moeda figurava o aclamado “tipo vitorioso” do homem belo, forte e de “herança salutar”.
Em exposições eugênicas realizadas na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos, famílias inteiras desfilavam, à maneira de animais de criação, como exemplares de boa cepa e “puro sangue”. Nem sequer o movimento operário escapou a tais desatinos. Karl Kautsky, o teórico social-democrata, escreveu com toda candura em prol da “higiene social”, e os já remediados operários especializados fundamentavam seu repúdio ao “desleixado lumpemproletariado” com argumentos biológicos e eugênicos.
Nesse imbróglio pseudocientífico de ideologias que perpassou toda a sociedade ocidental ao redor da passagem do século ganharam paulatinamente destaque duas imagens sociobiológicas distintas. De um lado, desenvolveu-se um racismo social que infamava pessoas de cor, enfermos, criminosos, incapacitados, maltrapilhos etc. como “homens inferiores”.
A construção da sociedade industrial cabia com exclusividade a trabalhadores brancos e fortes, e todo “lastro” supérfluo devia ser lançado por terra. Esse irracionalismo malevolente andava de mãos dadas com o menosprezo e a degradação das mulheres, a quem se irrogava certa “imbecilidade fisiológica”.
De outro lado, começou a grassar um novo anti-semitismo, despido de bases religiosas. “O judeu” foi imaginado como o “super-homem negativo”, como uma espécie de príncipe das trevas e o antípoda do níveo príncipe do trabalho.
Tal concepção maniqueísta reduziu a perniciosidade e as catástrofes da economia monetária à constituição biológica do “capital financeiro judeu”, ao qual o dinheiro “bom” do venerável trabalho branco devia fazer frente. As leis anônimas e a-subjetivas do mercado mundial em expansão foram portanto traduzidas na insensatez da pretensa conjura global de uma “raça estrangeira”.
Como todos sabem, o nacional-socialismo levou a dúplice ideologia biológica do “homem inferior” e do “super-homem negativo” à consequência extrema da aniquilação em escala industrial. Após os horrores de Auschwitz, ninguém mais desejou comprometer-se com tais idéias, as quais resvalaram então para o segundo plano histórico. No período da grande prosperidade que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, elas lampejavam apenas como espectros de um passado infausto, que se acreditava banido para sempre. As ciências econômica e social, entretanto, foram na verdade depuradas apenas superficialmente da escória conceitual do biologismo e darwinismo sociais. Mais do que nunca, a economia política lançou mão de um tipo de ciência social avessa a “meias-luzes”, arvorando-se em ciência seminatural “rigorosa”.
Enquanto o crescimento e a evolução acenavam com uma perspectiva global de bem-estar, os lêmures do biologismo social permaneceram trancafiados no mundo inferior. Dessa perspectiva, a floração da sociologia crítica e do neomarxismo nos anos 60 e 70 foi ilusória, pois apenas repetia as idéias emancipatórias do passado e se achava incapacitada de sobreviver a períodos de bonança econômica. Quando a crise da economia fez seu regresso, a crítica social de esquerda desapareceu significativamente dos grandes palcos públicos nos países ocidentais. Por essa época, o que estava na berlinda era a teoria do desconstrutivismo pós-moderno calcada em Foucault, que bem convinha à especulação do capitalismo-cassino da era de Reagan e Thatcher. O mundo _inclusive o sistema de mercado_ parecia dissolver-se em “textos” com os quais se podia brincar a bel-prazer.
Mas no refúgio da jovial e neurastênica “sociedade do risco”, como a batizou o sociólogo alemão Ulrich Beck _referindo-se ao desenvolvimento dos anos 80_, eclodiram as turbulências de um novo racismo. Desde então, o poder racista alastrou-se por todo mundo numa torrente de excessos sanguinolentos. Também na Alemanha, imigrantes e refugiados foram mortos friamente por maltas de radicais de direita em atentados incendiários. Até hoje, a esfera pública minora tais crimes como a obra de uns poucos jovens desclassificados. Na verdade, porém, o poder racista à solta nas ruas é o prenúncio de uma reviravolta nas condições atmosféricas mundiais.
Nas próprias fábricas de idéias sopram outros ventos. A última década viu o biologismo de uma nova “ciência natural” insinuar-se a passos de lobo no discurso acadêmico, que cada vez mais espelha a herança da moda lúdica e “pós-sociológica” do desconstrutivismo. À primeira vista, tudo indicava que a pesquisa genética conseguiria desbancar os despropósitos racistas com argumentos científicos. Pesquisadores como o geneticista molecular sueco Svante Pããbo provaram que homens das mais diversas nações, em virtude de suas sequências de DNA, podem ser geneticamente mais “aparentados” entre si do que com seus vizinhos de parede-meia. Mas tais constatações curvam-se hoje cada vez mais sob o peso de uma nova “biologização” da conduta social, para a qual, aliás, os próprios geneticistas se aprestam em fornecer a munição. O neurologista norte-americano Steven Pinker afirma que a língua é “congênita ao homem como a tromba ao elefante”, e que por isso deve existir certo “gene gramatical”. Para o ganhador do Prêmio Nobel Francis Crick, de San Diego, o próprio livre-arbítrio não passa de “reações neurológicas”. Cientistas do Instituto Robert Koch, em Berlim, dizem ter encontrado um vírus que supostamente desencadeia a melancolia e é transmitido por gatos domésticos. E Dean Hammer, biólogo molecular norte-americano, reduz mais uma vez a homossexualidade ao gene Xq28, situado na extremidade do cromossomo sexual X.
Trata-se sempre, como sói acontecer, de hipóteses não comprovadas que dizem menos da natureza do que da preferência ideológica dos cientistas. Tais estudiosos são muitas vezes ingênuos sob a óptica social e assim talvez não percebam como suas pesquisas “puramente objetivas” sofrem a influência de correntes ideológicas que solapam a sociedade. Escusado observar que a redução da cultura e sociabilidade humanas ao padrão da biologia molecular confere argumentos à legitimação de um barbarismo renovado. Os cientistas sociais norte-americanos Richard Herrnstein e Charles Murray, no estudo intitulado “The Bell Curve”, já haviam criado uma correlação entre “raça, genes e QI” que excluía, à maneira pseudobiológica, os negros americanos da “elite cognitiva”. Em breve nos brindarão os malfadados cientistas com um “gene de criminalidade” ou um “gene da pobreza”.
A descoberta de um destino social com lastros genéticos assenta como uma luva à política neoliberal da redução de custos. A nova disciplina acadêmica da “economia medicinal” fornece aos poucos a carta branca para que, por motivos de custos, os pobres, os enfermos e os incapacitados de países ocidentais sejam agraciados com o “auxílio à morte”. Debates sobre o tema são propostos em plena luz do dia na Alemanha, na Holanda e em solo escandinavo. O filósofo australiano Peter Singer, cujos avós morreram nos campos de concentração alemães, propugna hoje a tese nacional-socialista de que os recém-nascidos defeituosos sejam imolados como “indignos de vida”. Na China atual, tramita um projeto de lei em favor da legalização da eutanásia.
A tal brutalização sociodarwinista em escala mundial corresponde uma nova onda de anti-semitismo em todos os quadrantes do globo. Meio século após Auschwitz, sinagogas voltam a ser queimadas na Alemanha; do Atlântico aos Urais e até no Japão, prospera a campanha difamatória contra as comunidades judaicas; e, para rematar, Louis Farrakhan, o líder dos “Black Muslims” nos Estados Unidos, exercita-se na difamação em tiradas anti-semitas. Todos os grupos sociais, inclusive os movimentos de direitos civis, sucumbem cada dia mais a argumentos biológicos na batalha cruenta da concorrência, no propósito de se diferenciarem da humanidade. Sob o influxo da globalização do capital e com base na argumentação acadêmica dos geneticistas, talvez paire sobre nós a ameaça de um biologismo “universalista” que considera todas pessoas ineptas à concorrência dentro da sociedade monetária como “indivíduos inferiores” e que, simultaneamente, deseja imputar as futuras catástrofes da economia de mercado a uma “conjuração judia”.
O neoliberalismo, com sua pseudofísica ideológica das leis de mercado, soltou as peias de todos os demônios do barbarismo moderno e, assim, remontou à irracionalidade do “cientificismo social” do século 19. A naturalização da economia, porém, acarreta como consequência lógica a bestialização das relações sociais. Os mentores neoliberais não respondem apenas pelo advento do fundamentalismo, mas também pelo atual regresso ao darwinismo social e ao anti-semitismo.