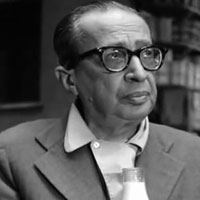EUA ignoram as “regras da Ordem Mundial”
Várias indagações vêm sendo feitas com relação ao bombardeio promovido pela Otan (o que significa principalmente os EUA) em conexão com Kosovo. Eu gostaria de fazer algumas observações gerais, me atendo a fatos que não são objeto de contestação séria.
(1) Quais são as “regras da ordem mundial” aceitas e aplicáveis?
Há um regime de direito e ordem internacionais, compulsório para todos os estados, baseado na Carta das Nações Unidas e resoluções subseqüentes e nas decisões da Corte Internacional de Justiça de Haia. Em suma, a ameaça de uso da força está banida exceto quando tiver sido autorizada explicitamente pelo Conselho de Segurança da ONU depois que este tiver concluído que os meios pacíficos falharam, ou em autodefesa contra um “ataque armado” (um conceito estreito) até que o Conselho aja.
É óbvio que há mais para dizer. Logo, existe pelo menos tensão, senão contradição completa, entre as regras da ordem mundial estabelecidas na Carta das Nações Unidas e os direitos articulados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, um segundo pilar da ordem mundial firmada sob a iniciativa dos EUA depois da II Guerra. A Carta proíbe o uso da força para violar a soberania dos estados; a Declaração garante os direitos individuais contra os estados opressivos. O fato da “intervenção humanitária” surge desta tensão. É no direito da “intervenção humanitária” que se baseiam os EUA e a OTAN em Kosovo. Isto é apoiado pela opinião dos editoriais e pelos relatos noticiosos (neste último caso, reflexivamente, até pela escolha da terminologia).
A questão é tratada no noticiário do New York Times de 27 de março cujo título é “Juristas Apóiam as Razões para Usar a Força” em Kosovo. Dá-se um exemplo: Allen Gerson, antigo advogado consultor da delegação dos EUA junto à ONU. Outros dois juristas são citados. Um deles, Ted Galen Carpenter, “zombou do argumento do governo norte-americano” e descartou o alegado direito de intervenção. O terceiro é Jack Goldsmith, um especialista em direito internacional na Faculdade de Direito de Chicago. Diz que os críticos do bombardeio pela OTAN “têm um argumento jurídico muito bom”, mas que “muitas pessoas pensam [que uma exceção para intervenção humanitária] realmente exista como costume e prática.” Isto sumaria a evidência fornecida para justificar a conclusão favorável estampada no título.
A observação de Jack Goldsmith é razoável, se ao menos concordarmos que os fatos sejam relevantes para determinar “o costume e a prática”. Podemos ter em mente uma tautologia: o direito à intervenção humanitária, se é que existe, pressupõe a “boa fé” daqueles que intervenham, e tal presunção não é baseada na retórica deles, mas nos seus antecedentes, e em especial nos seus antecedentes de adesão aos princípios do direito internacional, às decisões da Corte de Haia, etc. Isto é realmente uma tautologia, ao menos no que diga respeito a outrem. Considere-se, por exemplo, a oferta iraniana para intervir na Bósnia de maneira a prevenir massacres numa época em que o Ocidente assim não procederia. Foi ridicularizada e deixada de lado (de fato, ignorada); se houvesse alguma razão além da subordinação ao poder, isto se devia a que a “boa fé” iraniana não podia ser presumida.
Uma pessoa racional então fará perguntas óbvias: os antecedentes iranianos de intervenção e terror são piores dos que os dos Estados Unidos? E outras indagações, por exemplo: como deveríamos avaliar a “boa fé” do único país que vetou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que requeria que todos os estados do mundo obedeçam ao direito internacional? Que tal este antecedente histórico? A não ser que estas questões tenham proeminência na agenda do discurso, uma pessoa honesta as descartará como mera vassalagem à doutrina.Um exercício útil é determinar o quanto da literatura – a mídia e outros veículos – sobrevive a condições tão elementares.
(2) Como estas considerações, e outras, aplicam-se no caso de Kosovo?
Ocorreu uma catástrofe humanitária em Kosovo no ano passado, atribuível principalmente às forças militares iugoslavas. As principais vítimas foram albaneses kosovares, que perfazem cerca de 90% da população deste território iugoslavo. A estimativa padrão é de 2 mil mortos e centenas de milhares de refugiados.
Em casos como estes, os forasteiros têm as seguintes escolhas:
I. tentar aumentar a catástrofe; II. nada fazer; III. tentar mitigá-la.
As escolhas são ilustradas por outros casos contemporâneos. Atenhamo-nos a alguns da mesma escala, aproximadamente, e indaguemos se Kosovo satisfaz ao padrão.
(A) COLÔMBIA.
Na Colômbia, de acordo com as estimativas do Departamento de Estado, o nível anual de assassinatos políticos pelo governo e por seus associados paramilitares situa-se aproximadamente no nível de Kosovo, e os refugiados que fogem principalmente pelas atrocidades desses está bem acima de um milhão. A Colômbia tem sido o maior recipiente de armamento e treinamento norte-americanos no hemisfério ocidental à medida que a violência aumenta na década de noventa. Esta assistência esta agora aumentando, sob o pretexto da “guerra das drogas”, que é desprezado por quase todos os observadores sérios. O governo Clinton foi especialmente entusiástico em seu elogio ao Presidente Gaviria, cujo mandato foi responsável por “níveis pavorosos de violência”, segundo as organizações de direitos humanos, chegando a ultrapassar os de seus predecessores. Os detalhes são facilmente disponíveis.
Neste caso, a reação dos EUA é (I): aumentar as atrocidades..
(B) TURQUIA.
Por qualquer estimativa conservadora, a repressão turca aos curdos na década de noventa recai na categoria de Kosovo. Atingiu seu pico no princípio desta década; um dos índices é a fuga de cerca de um milhão de curdos do campo para a capital oficiosa curda de Diyarbakir de 1990 a 1994, à medida que o exército turco estava devastando as áreas rurais. O ano de 1994 conheceu dois recordes: foi “o ano da pior repressão nas províncias curdas” da Turquia, como Jonathan Randal relatou do palco dos acontecimentos, e o ano em que a Turquia se tornou “o maior importador individual de equipamento militar estadunidense e, assim, o maior comprador mundial de armamentos.” Quando os grupos de direitos humanos denunciaram o uso pela Turquia de jatos fabricados nos EUA para bombardear vilarejos, o governo Clinton achou maneiras para contornar as leis que requerem a suspensão das remessas de armamentos, como também fez na Indonésia e em outros lugares.
A Colômbia e a Turquia explicam suas atrocidades (apoiadas pelos Estados Unidos) alegando que se defendem da ameaça de guerrilhas terroristas. O mesmo faz o governo da Iugoslávia.
Novamente, o exemplo ilustra (I): tentar escalar as atrocidades.
(C) LAOS.
Todos os anos, milhares de pessoas, principalmente crianças e lavradores pobres, são mortos na Planície dos Jarros, no norte do Laos. Lá está a cena do bombardeio mais pesado de alvos civis na história e, comprovadamente, o mais cruel: o assalto furioso de Washington a uma sociedade de camponeses pobres pouco tem a ver com as guerras na região. O pior período foi a partir de 1968, quando Washington foi compelida a encetar negociações (sob pressão popular e de empresários), terminando o bombardeio regular do Vietnã do Norte. Kissinger-Nixon então decidiram mudar a rota dos aviões para bombardearem o Laos e o Cambodja.
As mortes resultam de “bombies”, pequenas armas antipessoais, muito piores do que as minas terrestres: são projetadas especificamente para matar e mutilar, e não têm nenhum efeito sobre caminhões, edifícios, etc. A Planície dos Jarros foi saturada com centenas de milhões desses instrumentos criminosos, que têm uma probabilidade de 20% a 30% de não explodir, de acordo com o fabricante, Honeywell. Os números sugerem um controle de qualidade notavelmente fraco ou uma política racional de matar civis por ação retardada. Estas “bombies” representam apenas uma fração da tecnologia posta em ação, que inclui mísseis avançados para penetrar em cavernas onde famílias procuraram abrigo. As baixas anuais correntes provocadas pelas “bombies” são estimadas entre centenas e “uma taxa anual em todo o país de 20 mil”, mais da metade constituída por mortes, segundo o veterano correspondente na Ásia Barry Wain, da edição asiática do Wall Street Journal.
Uma estimativa conservadora, portanto, é que a crise neste ano sejaaproximadamente comparável a Kosovo, embora as mortes sejam muito mais concentradas entre as crianças – cerca da metade, de acordo com o Comitê Central Menonita, que tem trabalhado desde 1977 para aliviar as atrocidades continuadas.
Têm havido esforços para tornar pública esta catástrofe e com ela lidar. Um grupo britânico – o MAG (Grupo de Aconselhamento em Minas) – está tentando remover os objetos letais, mas os Estados Unidos têm “conspicuamente faltado às poucas organizações ocidentais que têm seguido o MAG”, conforme relata a imprensa britânica, embora haja finalmente concordado em treinar alguns civis laosianos. A imprensa britânica também relata, com alguma raiva, a alegação dos especialistas do MAG de que os Estados Unidos recusam-se a fornecer-lhes “procedimentos de incolumidade” que tornariam seu trabalho “muito mais rápido e muito mais seguro”. Permanecem um segredo de estado, assim como toda esta questão nos EUA. A imprensa de Bangkok relata situação muito similar no Cambodja, specialmente em sua região oriental, onde os bombardeios norte-americanos desde os princípios de 1969 foram mais intensos.
Neste caso, a reação dos Estados Unidos é (II): nada fazer.
E a reação da mídia e dos comentaristas tem sido permanecer calados, seguindo as normas sob as quais a guerra contra o Laos foi designada uma “guerra secreta” – significando bem conhecida, embora suprimida, como também no caso do Cambodja desde março de 1969. O nível de autocensura foi então extraordinário, assim como na fase corrente. A relevância deste exemplo chocante deveria ser óbvia sem mais comentários.
Eu poderia dar outros exemplos de (I) e (II) aqui e ali, que abundam, e também atrocidades contemporâneas muito mais sérias, tal como a enorme carnificina de civis iraquianos por meio de uma forma particularmente viciosa de guerra biológica – “uma escolha muito dura” – , como Madeleine Albright comentou na TV nacional em 1996 quando indagada sobre sua reação ao assassinato de meio milhão de crianças iraquianas em cinco anos, porém, acrescentou, “pensamos que o preço valha a pena.” Estimativas correntes dão em cerca de 5 mil o número de crianças mortas mensalmente, e o preço ainda “vale a pena.” Estes e outros exemplos poderiam também ser trazidos à memória quando lermos uma retórica lacrimosa sobre como o “alcance moral” do governo Clinton está finalmente funcionando apropriadamente, como ilustrado pelo exemplo de Kosovo.
Que exatamente o exemplo ilustra? A ameaça de bombardeio pela OTAN, previsivelmente, levou a uma escalada aguda das atrocidades pelo exército sérvio e pelos paramilitares e levou à partida dos observadores internacionais, que obviamente teve o mesmo efeito. O general-comandante Wesley Clark declarou ser “inteiramente previsível” que o terror e violência sérvios se intensificariam após o bombardeio pela OTAN, exatamente como aconteceu. O terror pela primeira vez atingiu a capital Pristina, e há relatos críveis de destruição de vilarejos em larga escala, assassínios, um fluxo enorme de refugiados, talvez um esforço para expulsar uma boa parte da população albanesa – tudo conseqüência “inteiramente previsível” da ameaça do uso da força e da sua concretização, como o general Clark corretamente observa.
Kosovo é, portanto, um exemplo de (I): tente escalar a violência, como esperado.
Achar exemplos que ilustrem (III) é muitíssimo fácil, ao menos se dependermos da retórica oficial. O importante e recente estudo acadêmico de “intervenção humanitária, de Sean Murphy, revisa as evidências que se seguem do pacto Kellogg-Briand de 1928, que colocou a guerra fora da lei, e desde a Carta das Nações Unidas, que fortaleceu e articulou aqueles dispositivos.
Na primeira fase, escreve, os exemplos mais proeminentes de “intervenção humanitária” foram o ataque japonês à Mandchúria, a invasão de Mussolini na Etiópia, e a ocupação por Hitler de partes da Tchecoeslováquia. Todas estas iniciativas foram acompanhadas por retórica humanitária altamente exaltada, e também de justificativas factuais. O Japão iria estabelecer um “paraíso terrestre” ao defender os mandchus dos “bandidos chineses”, com o apoio de um destacado nacionalista chinês, uma figura muito mais convincente do que qualquer outra que os Estados Unidos poderiam ter invocado durante seu ataque no Vietnã do Sul. Mussolini estava libertando milhares de escravos à medida que fazia avançar a “missão civilizadora” do Ocidente. Hitler anunciava a intenção alemã de findar a violência e as tensões étnicas, e “salvaguardar a individualidade nacional dos povos alemão e tcheco”, numa operação “repleta do desejo mais ardente de servir os interesses verdadeiros dos povos que habitam a área”, de acordo com a vontade deles; o presidente eslovaco pediu a Hitler para declarar a Eslováquia um protetorado.
Outro exercício intelectual útil é comparar essas justificativas obscenas com as fornecidas para intervenções, incluindo as “intervenções humanitárias”, no período que se segue à Carta das Nações Unidas.
Neste período, talvez o exemplo mais flagrante de (III) haja sido a invasão do Cambodja pelo Vietnã em dezembro de 1978, que terminou com as atrocidades de Pol Pot, que então atingiam seu auge. O Vietnã alegou o direito de autodefesa contra ataque armado, um dos poucos exemplos no período pós-Carta em que a alegação é plausível: o regime do Khmer Vermelho (Kampuchea Democrático) estava levando a cabo ataques mortíferos contra o Vietnã em áreas fronteiriças. A reação dos Estados Unidos é instrutiva. A imprensa condenou os “prussianos” da Ásia por sua violação ultrajante do direito internacional. Foram duramente punidos pelo crime de ter acabado com os massacres de Pol Pot, primeiramente por uma invasão chinesa (apoiada pelos Estados Unidos), e depois pela imposição, pelos Estados Unidos, de sanções extremamente duras. Os Estados Unidos reconheceram o Kampuchea Democrático como o governo oficial do Cambodja, devido à sua “continuidade” em relação ao regime de Pol Pot, como explicou o Departamento de Estado. De maneira não muito sutil, os EUA apoiaram o Khmer Vermelho em seus ataques seguidos no Cambodja.
O exemplo nos diz muito sobre “os costumes e a prática” que subjazem “às normas legais emergentes de intervenção humanitária.” A despeito dos esforços desesperados dos ideólogos para provar que os círculos são quadrados, não há dúvida séria de que os bombardeios pela OTAN minam ainda mais o que resta da frágil estrutura do direito internacional.
Os Estados Unidos tornaram isto inteiramente claro nas discussões que conduziram à decisão da OTAN. Sem contar com a Grã-Bretanha (agora, um ator internacional tão independente como era a Ucrânia nos anos pré-Gorbachev), os integrantes da OTAN manifestavam ceticismo quanto à política norte-americana e estavam particularmente aborrecidos com o “retinir do sabre” pela Secretária de Estado Albright (Kevin Cullen, Boston Globe, 22 de fevereiro).
Hoje, quanto mais alguém se aproximar da região do conflito, maior achará a oposição à insistência de Washington no uso da força, mesmo no interior da OTAN (Grécia e Itália). A França propôs uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para autorizar o envio de mantenedores da paz da OTAN. Os Estados Unidos cabalmente recusaram, insistindo “em sua posição de que a OTAN deve ser capaz de agir independentemente das Nações Unidas”, como explicaram uncionários do Departamento de Estado. Os EUA recusaram-se a permitir que a “palavra nevrálgica ‘autorizar’ aparecesse na declaração final da OTAN, não querendo admitir qualquer autoridade à Carta da ONU e ao direito internacional; somente a palavra ‘endossar’ foi permitida” (Jane Perlez, New York Times, 11 de fevereiro).
De maneira semelhante, o bombardeio do Iraque foi uma expressão incandescente de desprezo pela ONU, e até a ocasião específica, tendo sido assim compreendido. E, está claro, isto também é verdadeiro no caso da destruição de metade da produção farmacêutica de um pequeno país africano há poucos meses, um fato que também não indica que o “alcance moral” está se extraviando da retidão – para não falar de evidências que seriam com certeza revistas logo agora se os fatos fossem considerados relevantes para determinar “os costumes e as práticas”.
Poder-se-ia argumentar, de maneira até mesmo plausível, que é irrelevante demolição mais extensa ainda da ordem mundial, assim como perdera seu sentido no final da década de trinta. O desprezo da maior potência mundial pela estrutura em que funciona a ordem mundial tornou-se tão extremado que nada resta para ser discutido. A revisão dos registros documentais internos mostra que tal posição pode ser rastreada desde os primeiros dias, até o primeiro memorando do recém-instituído Conselho de Segurança Nacional, em 1947. Durante os anos Kennedy, a posição começou a ganhar expressão aberta.
A principal inovação dos anos Reagan-Clinton é que o desafio ao direito internacional e à Carta tornou-se inteiramente aberto. Tem sido também apoiado com explicações interessantes, que estariam nas primeiras páginas, e teriam proeminência nos currículos universitários e colegiais, caso a verdade e a honestidade fossem consideradas valores significativos. As mais altas autoridades explicaram com clareza brutal que a Corte Internacional de Justiça, a ONU, e outras instituições tornaram-se irrelevantes porque já não seguem as ordens dos Estados Unidos, como faziam nos primeiros anos do pós-guerra.
Alguém poderia adotar a posição oficial. Isto seria uma atitude honesta, se ao menos acompanhada pela recusa ao jogo cínico de ser virtuoso aos próprios olhos e manejar os princípios escarnecidos do direito internacional como uma arma altamente seletiva contra inimigos que variam.
Embora os partidários de Reagan hajam aberto novos caminhos, sob Clinton o desafio da ordem mundial tornou-se tão extremado que preocupa até mesmo analistas políticos considerados “falcões”. No número corrente do importante periódico do “establishment”, Foreign Affairs, Samuel Huntington adverte que Washington está trilhando um curso perigoso. Aos olhos de boa parte do mundo – provavelmente da maior parte do mundo, ele sugere – os EUA estão “se tornando o superpoder velhaco”, sendo considerado “a maior ameaça externa singular às suas sociedades.” Argumenta que uma “teoria de relações internacionais” realista prediz que coalizões podem surgir para contrabalançar o superpoder malfeitor. Com fundamentos pragmáticos, então, a posição deveria ser reconsiderada. Os norte-americanos que prefiram uma imagem diferente de sua sociedade deveriam propor reconsideração com fundamentos que não os pragmáticos.
Em que pé tudo isto deixa a questão de que fazer em Kosovo? Deixa-a sem resposta. Os EUA escolheram um curso de ação que, como explicitamente reconhece, aumenta as atrocidades e a violência – “previsivelmente”; um curso de ação que também desfere outro golpe contra o regime da ordem internacional, que realmente oferece aos fracos pelo menos alguma proteção limitada contra os estados predadores. No que concerne ao longo prazo, as conseqüências são imprevisíveis. Uma observação plausível é que “cada bomba que caia sobre a Sérvia e cada assassinato étnico em Kosovo sugere que será escassa a possibilidade de que sérvios e albaneses vivam ao lado do outro em alguma espécie de paz” (Financial Times, 27 de março). Alguns dos resultados possíveis a longo prazo são horripilantes, o que não passa despercebido.
Um argumento-padrão é que tínhamos que fazer alguma coisa: não poderíamos simplesmente permanecer inertes enquanto as atrocidades continuam. Isto nunca é verdadeiro. Uma escolha, sempre, é seguir o princípio de Hipócrates: “em primeiro lugar, não faça mal.” Se você não conseguir pensar em alguma forma de aderir a este princípio elementar, então nada faça. Sempre há vias que podem ser consideradas. Diplomacia e negociações nunca estão no fim.
O direito de “intervenção humanitária” será provavelmente mais invocado com freqüência nos anos vindouros – talvez com justificações, talvez sem elas – agora que os pretextos da Guerra Fria perderam sua eficácia. Nesta era, talvez valha prestar atenção aos pontos de vista de comentadores altamente respeitados – para não falar da Corte Internacional de Justiça, que já decidiu especificamente neste assunto, um acórdão rejeitado pelos Estados Unidos, cujas alegações essenciais sequer foram reveladas.
Nas disciplinas acadêmicas de negócios internacionais e direito internacional não se achará vozes mais respeitadas do que Hedley Bull ou Leon Henkin. Bull advertiu há quinze anos que “certos estados ou grupos de estados que se põem como juízes autorizados do bem comum do mundo, desprezando os entendimentos alheios, são de fato uma ameaça à ordem internacional, e portanto à ação efetiva nesta área.” Henkin, em obra de referência sobre a ordem mundial, escreve que “as pressões que vulneram a proibição do uso da força são deploráveis, e os argumentos para legitimá-lo nessas circunstâncias não persuadem e são perigosos… As violações dos direitos humanos são realmente comuníssimas, e se fosse permissível remediá-las pelo uso externo da força, não haveria lei que proibisse o uso da força por quase qualquer estado contra quase qualquer outro estado. Creio que se deve fazer valer os direitos humanos e outras injustiças serem remediadas, por outros meios, pacíficos, e não abrindo as portas à agressão e destruindo o principal avanço no direito internacional, que é tornar a guerra ilegal e proibir a força.”
Os princípios reconhecidos de direito internacional e ordem mundial, as obrigações solenes dos tratados, as decisões da Corte Internacional de Justiça, os pronunciamentos abalizados dos mais respeitados comentadores, nada disto resolve automaticamente certos problemas. Cada assunto deve ser considerado por seus próprios méritos. Para os que não adotam os padrões de Saddam Hussein, há uma pesada carga de provas a serem produzidas ao subscrever a ameaça ou o uso da força em violação aos princípios da ordem internacional. Talvez a prova possa ser achada, mas deve ser exibida, não meramente proclamada com retórica apaixonada. As conseqüências de tais violações devem ser avaliadas cuidadosamente – em especial, o que compreendemos por “previsível.” E para os que são minimamente sérios, as razões das ações também devem ser avaliadas – mais uma vez, não pela adulação de nossos líderes e seus “alcances morais.