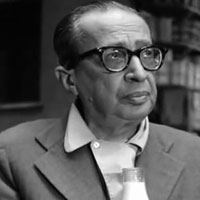O lugar e o cotidiano
Introdução
Nas atuais condições de globalização, a metáfora proposta por Pascal(1) parece ter ganho realidade: o universo visto como uma esfera Atividade racional, atividade simbólica e espaço O papel da proximidade A dimensão espacial do cotidiano Os migrantes no lugar: da memória à descoberta
infinita, cujo centro está em toda parte… O mesmo se poderia dizer daquela
frase de Tolstoi, tantas vezes repetida, segundo a qual, para ser universal,
basta falar de sua aldeia…
Como nos lembra Michel Serres, “[…] nossa relação com mundo mudou. Antes,
ela era local-local; agora é local-global[…]”. Recorda esse filósofo,
utilizando um argumento aproximativamente geogreáfico, que “hoje, temos uma nova
relação com o mundo, porque o vemos por inteiro. Através dos satélites, temos
imagens da Terra absolutamente inteira”.(2)
Na verdade, a globalização faz também redescobrir a corporeidade. O mundo da
fluidez, a vertigem da velocidade, a freqüência dos deslocamentos e a banalidade
do movimento e das alusões a lugares e a coisas distantes, revelam, por
contraste, no ser humano, o corpo como uma certeza materialmente sensível,
diante de um universo difícil de apreender. Talvez, por isso mesmo, possamos
repetir com edgar Morin (1990, p.44) que “hoje cada um de nós é como um ponto
singular de um holograma que, em certa medida, contém o todo planetário que o
contém”.
Os lugares, desse ponto de vista, podem ser vistos como um intermédio entre
o Mundo e o Indivíduo, lembra-nos Z. Mlinar (1990, p.57), para quem a lógica do
desenvolvimento dos sistemas sociais se manifesta pela unidade das tendências
opostas à individualidade e à globalidade. Essa é uma realidade tensa, um
dinamismo que se está recriando a cada momento, uma relação permanente instável,
e onde globalização e localização, globalização e fragmentação são termos de uma
dialélica que se refaz com freqüência. As próprias necessidades do novo regime
de acumulação levam a uma maior dissociação dos respectivos processos e
subprocessos, essa multiplicidade de ações fazendo do espaço um campo de forças
multicomplexo, graças à individualização e especialização minuciosa dos
elementos do espaço: homens, empresas, instituições, meio ambiente construído,
ao mesmo tempo em que se aprofunda a relação de cada qual com o sistema do
mundo.
Cada lugar é, à sua maneira, o mundo. Ou, como afirma M.A. de Souza (1995,
p.65), “todos os lugares são virtualmente mundiais”. Mas, também, cada lugar,
irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-se exponencialmente
diferente dos demais. A uma maior globalidade, corresponde uma maior
individualidade. É a esse fenômeno que G.Benko (1990, p.65) denomina
“glocalidade”, chamando a atenção para as dificuldades do seu tratamento
teórico. Para apreender essa nova realidade do lugar, não basta adotar um
tratamento localista, já que o mundo se encontra em toda parte. Também devemos
evitar o “risco de nos perder em uma simplificação cega”, a partir de uma noção
de particularidade que apenas leve em conta “os fenômenos gerais dominados pelas
forças sociais globais” Georges Benko (1990, p.65). A história concreta do nosso
tempo repõe a questão do lugar numa posição central, conforme, aliás, assinalado
por diversos geógrafos. A.Fischer (1994, p.73), por exemplo, refere-se à
“redescoberta da dimensão local”.
Impõe-se, ao mesmo tempo, a necessidade de, revisitando o lugar no mundo
atual, encontrar os seus novos significados. Uma possibilidade nos é dada
através da consideração do cotidiano (A. Buttimer, 1976; A. Garcia,1992, A
Damiani, 1994). Esta categoria da existência presta-se a um tratamento
geográfico do mundo vivido que leve em conta as variáveis de que nos estamos
ocupando neste livro: os objetos, as ações, a técnica, o tempo.
É largamente conhecida a tipologia da ação social proposta por Weber,
segundo a qual se podem distinguir uma atividade racional visando a um fim
prático e uma atividade comunicacional, mediada por símbolos. J. Habermas (1968,
1973, 1981, 1987) e outros autores retomaram essa quetão, em extensão e em
profundidade, para realçar o papel da interação na produção dos sistemas
sociais. Partindo do fenômeno técnico, G.Simondon (1958) já havia proposto
distinguir entre, de um lado, uma ação humana sobre o meio e, de outro, uma ação
simbólica sobre o ser humano. Sem o escrever explicitamente, B. Stiegler (1994,
p.25) aproxima essas duas propostas, quando reinterpreta Gehlen e Habermas, ao
realçar a oposição entre uma interação mediada pelas técnicas e sua
racionalidade e uma interação mediada pelos símbolos e pela ação comunicacional.
Uma dada situação não pode ser plenamente apreendida se, a pretexto de
contemplarmos sua objetividade, deixamos de considerar as relações
intersubjetivas que a caracterizam. G. Berger (1964, p.173) já nos lembrava de
que “o caráter humano do tempo da ação é “intersubjetivo”. E Bakhtin (1986,
1993, p.54), mais perto de nós, afirma que a arquitetura concreta do mundo atual
dos atos realizados tem três momentos básicos: o Eu-para-mim mesmo; o
outro-para-mim; o Eu-para-o outro (basic moments: I-for-myself, the
other-for-me, and I-for-the-other). É desse modo que se constroem e refazem os
valores, através de um processo incessante de interação.
A.D. Rodrigues (1994, p.75) nos convida a estabelecer uma clara distinção
entre informação e comunicação. Ele nos lembra de que “podemos nos comunicar com
o mundo que nos rodeia, com os outros, e até mesmo conosco, sem procedermos à
transmissão de quaisquer informações, tal como podemos transmitir informações
sem criarmos ou alimentarmos quaisquer laços sociais”. Para este autor, “na
experiência comunicacional inter vêm processos de interlocução e de interação
que criam, alimentam e restabelecem os laços sociais e a sociabilidade entre os
indivíduos e grupos sociais que partilham os mesmos quadros de experiência e
identificam as mesmas ressonâncias históricas de um passado comum”.
“Comunicar”, lembra-nos H.Laborit (1987, p.38) “etimologicamente significa
pôr em comum”. Esse processo, no qual entram em jogo diversas interpretações do
existente, isto é, das situações objetivas, resulta de uma verdadeira negociação
social, de que participam preocupações pragmáticas e valores simbólicos, “pontos
de vista mais ou menos compartidos”, em proporções variáveis, diz S. van der
Leecew (1994, p.34). Nessa construção, pois, além do próprio sujeito, entram as
coisas e os outros homens. Segundo ainda G. Berger (1943, 1964, p.15) “a idéia
dos outros implica a idéia de um mundo”.
A seguir Tran-Duc-Thao (1951, 1971, p.260), os “esboços simbólicos”,
providos pelo movimento de cooperação, prolongam a atividade própria do sujeito
e abarcam a totalidade da tarefa comum, levando cada sujeito a tomar consciência
de que a universalidade é o verdadeiro sentido de sua existência singular.
“A práxis se revela também como totalidade” diz H. Lefebvre (1958, p.238), e
por isso “a análise da vida cotidiana envolve concepções e apreciações na escala
da experiência social em geral” (H. Lefebvre, 1971, p.28), o que inclui,
paralelamente “uma apropriação profunda e uma compreensão imediata” (J.-P.
Sartre, 1960, p. 207).
O mundo ganha sentido por ser esse objeto “comum”, alcançado através das
relações de reciprocidade que, ao mesmo tempo, produzem a alteridade e a
comunicação. É desse modo, ensina G. Berger (1964, p.15), que o mundo constitui
“o meio de nos unir, sem nos confundir”. Essa transindividualidade, definida por
Simondon (1958, p.248), é constituída pelas relações inter-humanas que incluem o
uso das técnicas e dos objetos técnicos. A territorialidade é, igualmente,
transindividualidade, e a compartimentação da interação humana no espaço
(Sanguin, 1977, p.53; C. Raffestin, 1980, p.146; Soja, 1971) é tanto um aspecto
da territorialidade como da transindividualidade.
A relação do sujeito com o prático-inerte inclui a relação com o espaço. O
prático-inerte é uma expressão introduzida por Sartre, para significar as
cristalizações da experiência passada, do indivíduo e da sociedade,
corporificadas em formas sociais e, também, em configurações espaciais e
paisagens. Indo além do ensinamento de Sartre, podemos dizer que o espaço, pelas
suas formas geográficas materiais, é a expressão mais acabada do prático-inerte.
No espaço – que é uno mas diferenciado – impõe-se com mais força a unidade
prático-inerte do múltiplo a que se refere A. Gorz (1959, 1964), essa “unidade
exterior da atividade de todos em sua condição de outros”. O espaço se dá ao
conjunto dos homens que nele se exercem como um conjunto de virtualidades de
valor desigual, cujo uso tem de ser disputado a cada instante, em função da
força de cada qual. Podemos comparar essa situação àquela com que Sartre (1960,
p.210) define o fenômeno da escassez. No dizer de Sartre, nessa situação “cada
qual sabe que figura como objeto no campo prático do outro” e “isso mesmo impede
os dois movimentos de unificação prática de constituir com o mesmo entorno
(environnement) dois campos de ação diferentes”.
A noção de socialidade, difundida entre os sociólogos, encontra em geógrafos
como Di Meo (1991) e J. Lévy (1994), uma explicitação. Tal socialidade lembra
Schutz (Schutz, 1967) será tanto mais intensa quanto maior a proximidade entre
as pessoas envolvidas. Simmel (1903, p.47) já o havia salientado, ao distinguir
entre os extremos da distância espacial e da proximidade espacial (B. Werlen,
1993, p.170). É apropriado dizer, como Muniz Sodré (1988, p.18), que ” a relação
espacial, inapreensível pelas estruturas clássicas de ação e de representação, é
inteligível como um princípio de coexistência da diversidade”, e constitui uma
garantia do exercício de possibilidade múltiplas de comunicação(3).
Os economistas também se preocupam com essa questão da proximidade, a
distância sendo considerada como um fator relevante na estruturação do comércio
internacional (Y. Berthelot, 1994, pp.15-16). Mas a proximidade que interessa ao
geógrafo – conforme já vimos – não se limita a uma mera definição das
distâncias; ela tem que ver com a contigüidade física entre pessoas numa mesma
extensão, num mesmo conjunto de pontos contínuos, vivendo com a intensidade de
suas inter-relações. Não são apenas as relações econômicas que devem ser
apreendidas numa análise da situação de vizinhança, mas a totalidade das
relações. É assim que a proximidade, diz J.-L. Guigou (1995, p.56) “pode criar a
solidariedade , laços culturais e desse modo a identidade”. O papel da
vizinhança na produção da consciência é mostrado por J. Duvignaud (1977, p.20),
quando identifica na “densidade social” produzida pela fermentação dos homens em
um mesmo espaço fechado, uma “acumulação que provoca uma mudança surpreendente”
movida pela afetividade e pela paixão, e levando a uma percepção global,
“holista”, do mundo e dos homens. Quando ele se refere a “espaços fechados”
(espace clos, huis-clos), uma primeira leitura do seu texto pode levar a crer
que a situação descrita estaria limitada àqueles lugares fortificados, medrosos
do inimigo exterior, protegidos atrás de muralhas, dos quais as cidades
medievais são o melhor exemplo. O fato, porém, é que, pela estruturação do seu
território e do seu mercado – uno e múltiplo -, as cidades atuais, sobretudo as
metrópoles, abertas a todos os ventos do mundo, não são menos individualizadas.
Esses lugares, com a sua gama infinita de situações, são a fábrica de relações
numerosas, freqüentes e densas. O número de viagens internas é muitas vezes
superior ao de deslocamentos para outros subespaços. Em condições semelhantes,
as grandes cidades são muito mais buliçosas que a médias e pequenas. A cidade é
o lugar onde há mais mobilidade e mais encontros. A anarquia atual da cidade
grande lhe assegura um maior número de deslocamentos, enquanto a geração de
relações interpessoais é ainda mais intensa. O movimento é potencializado nos
países subdesenvolvidos, graças à enorme gama de situações pessoais de renda, ao
tamanho desmesurado das metrópoles e ao menor coeficiente de “racionalidade” na
operação da máquina urbana.
Nelas, a co-presença e o intercâmbio são condicionados pelas infraestruturas
presentes e suas normas de utilização, pelo mercado territorialmente delimitado
e pelas possibilidades de vida cultural localmente oferecidas pelo equipamento
existente. A divisão do trabalho dentro dessas cidades é o resultado da
conjugação de todos esses fatores, não apenas do fator econômico.
O intercâmbio efetivo entre pessoas é a matriz da densidade social e do
entendimento holístico referidos por Duvignaud (1977) e que constituem a
condição desses acontecimentos infinitos, dessas solicitações sem-número, dessas
relações que se acumulam, matrizes de trocas simbólicas que se multiplicam,
diversificam e renovam. A noção de “emorazão” (S.Laflamme, 1995), encontra seu
fundamento nessas trocas simbólicas que unem emoção e razão.
A noção de co-presença, de que a sociologia vem servindo-se desde os seus
fundadores, noção realçada por Goffman (1961) e retomada por Giddens (1987),
ganha uma nova dimensão quando associada à noção e à realidade geográfica da
vizinhança, essa “condição de vizinhança” referida por Sartre em “Questions de
Méthode”. O território compartido impõe a inter dependência como práxis, e essa
“base de operação” da “comunidade” no dizer de Parsons (1952, p.91) constitui
uma mediação inevitável para o exercício dos papéis específicos de cada qual,
conforme realça B. Werlen (1993, p.190). Nas cidades, esse fenômeno é ainda mais
evidente, já que pessoas desconhecidas entre si trabalham conjuntamente para
alcançar, malgrado elas, resultados coletivos. Teilhard de Chardin(4) já se referia ao que chamava de “pressão humana” resultado da
acumulação crescente dos homens em espaços limitados, como uma fator de mudança
qualitativa e rápida das relações sociais no mundo contemporâneo. Comentando
essa idéia, Gaston Berger (1964, p.249) assinala que ” ao mesmo tempo [….]
aumentam a agitação, o raio de ação e as relações” entre os homens e compara
esse fato com o fenômeno físico pelo qual a pressão de um gás depende do número
de moléculas comprimidas, e aumenta também com o aumento da temperatura, isto é,
com a agitação das partículas. É bom pensar, ainda com G. Berger, que “entram em
cena, hoje, massas que estavam estacionárias”.
Este último fenômeno é tanto mais significativo porque em nossos dias a
cultura popular deixa de estar cantonada numa geografia restritiva e encontra um
palco multitudinário, graças às grandes arenas, como os enormes estádios e as
vastas casas de espetáculo e de diversão e graças aos efeitos ubiqüitários
trazidos por uma aparelhagem tecnotrônica multiplicadora. Sob certos aspectos, a
cultura popular assume uma revanche sobre a cultura de massas,
constitucionalmente destinada a sufocá-la. Cria-se uma cultura popular de
massas, alimentada com a crítica espontânea de um cotidiano repetitivo e, também
não raro, com a pregação de mudanças, mesmo que esse discurso não venha com uma
proposta sistematizada. “A cultura de massas “permissiva” do século XX extraiu
uma nova liberdade de um sistema cultural anteriormente repressivo e
hierárquico” (Silvio Funtowicz, Jerome R. Ravetz, 1993).
Com o papel que a informação e a comunicação alcançaram em todos os aspectos
da vida social, o cotidiano de todas as pessoas assim se enriquece de novas
dimensões. Entre estas, ganha relevo a sua dimensão espacial, ao mesmo tempo em
que esse cotidiano enriquecido se impõe como uma espécie de quinta dimensão do
espaço banal, o espaço dos geógrafos.
Através do entendimento desse conteúdo geográfico do cotidiano poderemos,
talvez, contribuir para o necessário entendimento (e, talvez, teorização) dessa
relação entre espaço e movimentos sociais, enxergando na materialidade, esse
componente imprescindível do espaço geográfico, que é, ao mesmo tempo, uma
condição para a ação; uma estrutura de controle, um limite à ação; um convite à
ação. Nada fazemos hoje que não seja a partir dos objetos que nos cercam.
E enquanto outros especialistas podem escolher, na listagem de ações e na
população de objetos, aqueles que interessam aos seus estudos setoriais, o
geógrafo é obrigado a trabalhar com todos os objetos e todas as ações.
O espaço inclui, pois, essa “conexão materialística de um homem com o outro”
de que falam Marx e Engels na “Ideologia Alemã” (1947, pp.18-19), conexão que
“está sempre tomando novas formas”. A forma atual, conforme já vimos, supõe
informação para o seu uso e ela própria constitui informação, graças à
intencionalidade de sua produção. Como hoje nada fazemos sem esses objetos que
nos cercam, tudo o que fazemos produz informação.
A localidade se opõe à globalidade, mas também se confunde com ela. O Mundo,
todavia, é nosso estranho. Entretanto se, pela sua essência, ele pode
esconder-se, não pode fazê-lo pela sua existência, que se dá nos lugares. No
lugar, nosso Próximo, se superpõem, dialeticamente, o eixo das sucessões, que
transmite os tempos externos das escalas superiores e o eixo dos tempos
internos, que é o eixo das coexistências, onde tudo se funde, enlaçando,
definitivamente, as noções e as realidades de espaço e de tempo.
No lugar – um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e
instituições – cooperação e conflito são a base da vida em comum. Porque cada
qual exerce uma ação própria, a vida social se individualiza; e porque a
contigüidade é criadora de comunhão, a política se territorializa, com o
confronto entre organização e espontaneidade. O lugar é o quadro de uma
referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas
de ações condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões
humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas
manifestações da espontaneidade e da criatividade.
Os pobres na cidade
Com a modernização contemporânea, todos os lugares se mundializam. Mas há
lugares globais simples e lugares globais complesos. Nos primeiros apenas alguns
vetores da modernidade atual se instalam. Nos lugares complexos, que geralmente
coincidem com as metrópoles, há profusão de vetores: desde os que diretamente
representam as lógicas hegemônicas, até os que a elas se opõem. São vetores de
todas as ordens, buscando finalidades diversas, às vezes externas, mas
entrelaçadas pelo espaço comum. Por isso a cidade grande é um enorme espaço
banal, o mais significativo dos lugares. Todos os capitais, todos os trabalhos,
todas as técnicas e formas de organizaçnao podem aí se instalar, conviver,
prosperar. Nos tempos de hoje, a cidade grande é o espaço onde os fracos podem
subsistir.
Durante muito tempo, a metrópole foi definida, nos países subdesenvolvidos
pelo menos, como o lugar em que se concentravam os recursos da Nação e a
densidade capitalista era mais alta. Essa era a base da teoria do pólo e da
periferia de G. Myrdal (1957), A. Hirschman (1958), J. Friedmann (1963), F.
Perroux (1961) e J. Boudeville (1964). Hoje, graças ao fenômeno das redes e à
difusão da modernidade no território, sabemos que o capital novo se difunde mais
largamente, mais profundamente, e mais rapidamenter, no campo do que na cidade.
E nesta, o próprio meio ambiente construído freqüentemente constitui um
obstáculo à difusão dos capitais novos. Graças à sua configuração geográfica, a
cidade, sobretudo a grande, aparece como diversidade socioespacial a comparar
vantajosamente com a biodiversidade hoje tão prezada pelo movimento ecológico.
Palco da atividade de todos os capitais e de todos os trabalhos, ela pode atrair
e acolher as multidões de pobres expulsos do campo e das cidades médias pela
modernização da agricultura e dos serviços. E a presença dos pobres aumenta e
enriquece a diversidade socioespacial, que tanto se manifesta pela produção da
materialidade em bairros e sítios tão constrastantes, quanto pelas formas de
trabalho e de vida. Com isso, aliás, tanto se ampliam a necessidade e as formas
da divisão do trabalho, como as possibilidades e as vias da intersubjetividade e
da interação. É por aí que a cidade encontra o seu caminho para o futuro.
Não pretendemos aqui reproduzir um velho esquema de análise da economia
urbana, esquema dual, mas não dualista, utilizado primeiro para os países do
Terceiro Mundo (Santos, 1979) e hoje ampliado aos países ricos, com o
reconhecimento da existência de um setor dito informal ao lado de um setor dito
formal da economia. Pode-se, entretento, admitir que, nas condições atuais – e
permeadas por uma infinidade de situações intermediárias – existem duas
situações tipo em todas as grandes cidades. Há, de um lado, uma economia
explicitamente globalizada, produzida de cima, e um setor produzido de baixo,
que, nos países pobres, é um setor popular e, nos países ricos, inclui os
setores desprivilegiados da sociedade, incluídos os imigrantes. Cada qual é
responsável pela instalação, dentro das cidades, de divisões de trabalho
típicas. Em todos os casos, a cidade é um grande sistema, produto de
superposição de subsistemas diversos de cooperação, que criam outros tantos
sistemas de solidariedade. Nas atuais condições de globalização, todos esses
subcírculos ou subsistemas de solidariedade tendem a especializações que não tem
a mesma natureza. Pode-se, também, dizer que há uma especialização de atividades
por cima e uma especialização de atividades por baixo. Mas a primeira é rígida,
dependente de normas implacáveis, de cuja obediência depende a sua eficácia.
Diz-se destas normas que são complexas por causa do seu conteúdo científico e
tecnológico e de sua busca de precisão no processo produtivo. Mas, também,
pode-se dizer que, na economia mais pobre, as divisões do trabalho consideradas
mais simples pelo discurso dominante, são, de fato, as mais complexas? Nas
grandes cidades, sobretudo no Terceiro Mundo, a precariedade da existência de
uma parcela importante (às vezes a maioria) da população não exclui a produção
de necessidades, calcadas no consumo das classes mais abastadas. Como resposta,
uma divisão do trabalho imitativa, talvez caricatural, encontra as razões para
se instalar e se reproduzir. Mas aqui o quadro ocupacional não é fixo: cada ator
é muito móvel, podendo sem trauma exercer atividades diversas ao sabor da
conjuntura. Essas metamorfoses do trabalho dos pobres nas grandes cidades cria o
que, em um outro lugar (Santos, 1991) denominamos de “flexibilidade tropical”.
Há uma variedade infinita de ofícios, uma multiplicidade de combinações em
movimento permanente, dotadas de grande capacidade de adaptação, e sustentedas
no seu próprio meio geográfico, este sendo tomado como uma forma-conteúdo, um
híbrido de materialidade e relações sociais. Desse modo, as respectivas divisões
proteiformes de trabalho, adaptáveis, instáveis, plásticas, adaptam-se a si
mesmas, mediante incitações externas e internas. Sua solidariedade se cria e se
recria ali mesmo, enquanto a solidariedade imposta pela cooperação de tipo
hegemônico é comandada de fora do meio geográfico e do meio social em que
incide.
No primeiro caso, avultam as relações de proximidade, que também são uma
garantia da comunicação entre os participantes. Nesse sentido, os guetos
urbanos, comparados a outras áreas da cidade, tenderiam a dar às relações de
proximidade um conteúdo comunicacional ainda maior e isso se deve a uma
percepção mais clara das situações pessoais ou de grupo e à afinidade de
destino, afinidade econômica ou cultural.
Durante séculos, acreditáramos que os homens mais velozes detinham a
inteligência do Mundo(5). A literatura que glorifica a
potência inclui a velocidade como essa força mágica que permitiu à Europa
civilizar-se primeiro e empurrar, depois, a “sua” civilização para o resto do
mundo(6). Agora, estamos descobrindo que, nas cidades, o
tempo comanda, ou vai comandar, é o tempo dos homens lentos. Nagrande cidade,
hoje, o que se dá é tudo ao contrário. A força é dos “lentos” e não dos que
detêm a velocidade elogiada por Virilio em delírio, na esteira de um Valéry
sonhador. Quem, na cidade, tem mobilidade – e pode percorrê-la e esquadrinhá-la
– acaba por ver pouco, da cidade e do mundo. sua comunhão com as imagens,
freqüentemente prefabricadas, é a sua perdição. Seu conforto, que não desejam
perder, vem, exatamente, do convívio com essas imagens. os homens “lentos”, para
quem tais imagens são miragens, não podem, por muito tempo, estar em fase com
esse imaginário perverso e acabam descobrindo as fabulações.
É assim que eles escapam ao totalitarismo da racionalidade, aventira vedada
aos ricos e às classes medias. Desse modo, acusados por uma literatura
sociológica repetitiva, de orientação ao presente e de incapacidade de
prospectiva, são os pobres que, na cidade, mais fixamente olham para o futuro.
Na cidade “luminosa”, moderna, hoje, a “naturalidade” do objeto técnico cria
uma mecânica rotineira, um sistema de gestos sem surpresa. Essa historicização
da metafísica crava no organismo urbano áreas constituídas ao sabor da
modernidade e que se justapõem, superpõem e contrapõem ao resto da cidade onde
vivem os pobres, nas zonas urbanas ‘opacas’. Estas são os espaços do
aproximativo e da criatividade, opostos às zonas luminosas, espaços da exatidão.
Os espaços inorgânicos é que são abertos, e os espaços regulares são fechados,
racionalizados e racionalizadores.
Por serem “diferentes”, os pobres abrem um debate novo, inédito, às vezes
silencioso, às vezes ruidoso, com as populações e as coisas já presentes. É
assim que eles reavaliam a tecnoesfera e a psicoesfera, encontrando novos usos e
finalidades para objetos e técnicas e também novas articulações práticas e novas
normas, na vida social e afetiva. Diante das redes técnicas e informacionais,
pobres e migrantes são passivos, como todas as demais pessoas. É na esferas
comunicacional que eles diferentemente das classes ditas superiores, são
fortemente ativos.
Trata-se, para eles, da busca do futuro sonhado como carência a satisfazer –
carência de todos os tipos de consumo, consumo material e imaterial, também
carência do consumo político, carência de participação e de cidadania. Esse
futuro é imaginado ou entrevisto na abundância do outro e entrevisto, como
contrapartida, nas possibilidades apresentadas pelo Mundo e percebidas no lugar.
Então, o feitiço se volta contra o feiticeiro. O consumo imaginado, mas não
atendido – essa “carência fundamental” no dizer de Sartre -, produz um
desconforto criador. O choque entre cultura objetiva e cultura subjetiva
torna-se instrumento da produção de uma nova consciência.
Segundo P. Rimbaud (1973, p.283) “a cidade transforma tudo, inclusive a
matéria inerte, em elementos de cultura”. A cultura, forma de comunicação do
indivíduo e do grupo com o universo, é uma herança, mas também um reaprendizado
das relações profundas entre o homem e o seu meio. “De que cultura estaremos
falando? Da cultura de massas, que se alimanta das coisas, ou da cultura
profunda, cultura popular, que se nutre dos homens? A cultura de massa,
denominada “cultura” por ser hegemônica, é, freqüentemente, um emoliente da
consciência. O momento da consciência aparece quando os indivíduos e os grupos
se desfazem de um sistema de costumes, reconhecendo-os como um jogo ou uma
limitação” (M.Santos, 1987, 1992, p.64).
As classes medias amolecidas deixam absorver-se pela cultura de massa e dela
retiram argumento para racionalizar sua existência empobrecida. Os carentes,
sobretudo os mais pobres, estão isentos dessa absorção, mesmo porque não dispõem
dos recursos para adquirir aquelas coisas que transmitem e asseguram essa
cultura de massa. É por isso que as cidades, crescentemente inegalitárias,
tendem a abrigar, ao mesmo tempo, uma cultura de massa e uma cultura popular,
que colaboram e se atritam, interferem e se excluem, somam-se e se subtraem, num
jogo dialético sem-fim.
A cultura de massa é indiferente à ecologia social. Ela responde
afirmativamente à vontade de uniformização e indiferenciação. A cultura popular
tem raízes na terra em que se vive, simboliza o homem e seu entorno, encarna a
vontade de enfrentar o futuro sem romper com o lugar, e de ali obter a
continuidade, através da mudança. Seu quadro e seu limite são as relações
profundas que se estabelecem entre o homem e o seu meio, mas seu alcance é o
mundo.
Essa busca de caminhos é, também, visão iluminada do futuro e não apenas
prisão em um presente subalternizado pela lógica instrumental ou aprisionado num
cotidiano vivido como preconceito. É a vitória da individualidade refortalecida,
que ultrapassa a barreira das práxis repetitivas e se instala em uma práxis
libertadora, a práxis inventiva de que fala H. Lefebvre (1958, p.240).
Vivemos um tempo de mudanças. Em muitos casos, a sucessão alucinante dos
eventos não deixa falar de mudanças apenas, mas de vertigem. O sujeito no lugar
estava submetido a uma convivência longa e repetitiva com os mesmos objetos, os
mesmos trajetos, as mesmas imagens, de cuja construção participava: uma
familiaridade que era fruto de uma história própria, da sociedade local e do
lugar, onde cada indivíduo era ativo.
Hoje, a mobilidade se tornou praticamente uma regra. O movimento se sobrepõe
ao repouso. A circulação é mais criadora que a produção. Os homens mudam de
lugar, como turistas ou como imigrantes. Mas também os produtos, as mercadorias,
as imagens, as idéias. Tudo voa. Daí a idéia de “desterritorialização”.
Desterritorialização é, freqüentemente, uma outra palavra para significar
estranhamente, que é, também, desculturização. Vir para a cidade grande é,
certamente, deixar atrás uma cultura herdada para se encontrar com uma outra.
Quando o homem se defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja história
desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de uma vigorosa
alienação.
Mas, num mundo do movimento, a realidade e a noção de residência (Husserl,
Heidegger, Sartre) do homem não se esvaem. O homem mora talvez menos, ou moras
muito menos tempo, mas ele mora: mesmo que ele seja desempregado ou migrante. A
“residência”, o lugar de trabalho, por mais breve que sejam, são quadros de vida
que têm peso na produção do homem. Como escreveu Husserl (1975, p.26) “[…] o
fundamento permanente do trabalho subjetivo de pensar é o entorno vital”.
Segundo Lowenthal (1975), o passado é um outro país… Digamos que o passado
é um outro lugar, ou, ainda melhor, num outro lugar. No lugar novo, o passado
não está; é mister encarar o futuro: perplexidade primeiro, mas, em seguida,
necessidade de orientação. Para os migrantes, a memória é inútil. trazem consigo
todo um cabedal de lembranças e experiências criado em função de outro meio, e
que de pouco lhes serve para a luta cotidiana. Precisam criar uma terceira via
de entendimento da cidade. Suas experiências vividas ficaram para trás e nova
residência obriga a novas experiências. Trata-se de um embate entre o tempo da
ação e o tempo da memória. Obrigados a esquecer, seu discurso é menos
contaminado pelo passado e pela rotina. Cabe-lhes o privilégio de não utilizar
de maneira pragmática e passiva o pratico-inerte (vindo de outros lugares) de
que são portadores.
Ultrapassado um primeiro momento de espanto e atordoamento, o espírito
alerta se refaz, reformulando a idéia de futuro a partir do entendimento novo da
nova realidade que o cerca. O entorno vivido é lugar de uma troca, matriz de um
processo intelectual.
O homem busca reaprender o que nunca lhe foi ensinado, e pouco a pouco vai
substituindo a sua ignorância do entorno por um conhecimento, ainda que
fragmentário.
O novo meio ambiente opera como uma espécie de detonador. Sua relação com o
novo morador se manifesta dialeticamente como territorialidade nova e cultura
nova, que interferem reciprocamente, mudando-se paralelamente territorialidade e
cultura; e mudando o homem. Quando essa síntese é percebida, o processo de
alienação vai cedendo ao processo de integração e de entendimento, e o indivíduo
recupera a parte do seu ser que parecia perdida.
Em que medida a “territorialidade longeva” seria mais importante que a
“efemeridade”? A memória coletiva é apontada como um cimento indispensável à
sobrevivência das sociedades, o elemento de coesão garantidor da permanência e
da elaboração do futuro. Essa tese ganhou tal força que hoje, diante de uma
sociedade e uma cultura em perpétua agitação, a cultura do movimento é apontada
como o dado essencial da desagragação e da anomia.
Mas sabemos também que os eventos apagam o saber já constituído, exigindo
novos saberes.(7) Quando, como nos dias atuais, os eventos
são mais numerosos e inéditos em cada lugar, a reinserção ativa, isto é,
consciente, no quadro de vida, local ou global, depende cada vez menos da
experiência e cada vez mais da decoberta.
Não importa que, diante da aceleração contemporânea, e graças ao tropel de
acontecimentos, o exercício de repensar tenha de ser heróico. Essa proibição do
repouso, essa urgência, esse estado de alerta exigem da consciência um ânimo,
uma disposição, uma força renovadora.
A força desse movimento vem do fato de que, enquanto a memória é coletiva, o
esquecimento e a conseqüente (re)descoberta são individuais, diferenciados,
enriquecido as relações interpessoais, a ação comunicativa. Assim, o que
pareceria uma inferioridade, na realidade é uma vantagem. Ao contrário do que
deseja acreditar a teoria atualmente hegemônica, quanto menos inserido o
indivíduo (pobre, minoritário, migrante…), mais facilmente o choque da
novidade o atinge e a descoberta de um novo saber lhe é mais fácil. O homem de
fora é portador de uma memória, espécie de consciência congelada, provinda com
ele de um outro lugar. O lugar novo o obriga a um novo aprendizado e a uma nova
formulação. A memória olha para o passado. A nova consciência olha para o
futuro. O espaço é um dado fundamental nessa descoberta. Ele é o teatro dessa
novação por ser, ao mesmo tempo, futuro imediato e passado imediato, um presente
ao mesmo tempo concluído e incluso, num processo sempre renovado.
Quanto mais instável e surpreendedor for o espaço, tanto mais surpreendido
será o indivíduo, e tanto mais eficaz a operação da descoberta. A consciência
pelo “lugar” se superpõe à consciência no “lugar”. A noção de espaço
desconhecido perde a conotação negativa e ganha um acento positivo, que vem do
seu papel na produção da nova história.
O presente não é um resultado, uma decorrência do passado, do mesmo modo que
o futuro não pode ser uma decorrência do presente, mesmo se este é uma “eterna
novidade”, no dizer de S. Borelli (1992, p.80).(8) O
passado comparece como uma das condições para a realização do evento, mas o dado
dinâmico na produção da nova história é o próprio presente, isto é, a conjunção
seletiva de forças existentes em um dado momento. Na realidade, se o Homem é
Projeto, como diz Sartre, é o futuro que comanda as ações do presente.
Notas:
1) Citado em Jean-Claude Beaune, 1994, p.54.
2) Michel Serres, entrevista a Bernado Carvalho, Folha de S.
Paulo, 21/4/1990.
3) É também nesse sentido que Muniz Sodré (1988, p.15)
reconhecia uma “dimensão territorial” ou uma “lógica geográfica” da
cultura.
4) “[…] No mundo, atualmente, entram em ação massas humanas
que até há pouco eram relativamente estacionárias. Trata-se de um fenômeno de
importância considerável, pois o padre Teilhard tomou consciência dessa pressão
humana que aumenta cada vez mais e mostrou, de forma muito convincente, que tal
pressão, ao criar estruturas novas, força a criação de organizações que, segundo
nossa habilidade ou generosidade, serão ou exclusivamente medidas coercitivas
ou, ao contrário, pontos de apoio para um desenvolvimento mais amplo de nossas
liberdades. Mas, como quer que seja, já não temos escolha. Podemos, sim,
escolher entre escravidão e liberdade, mas não evitar a pressão: ela é um fato,
ela existe, ela se dilata, ela crescesem parar. Queiramos ou não, estamos cada
vez mais uns com os outros – e a pressão humana não pára de aumentar.” G.
Berger, 1964, pp.249-250.
5) “Com a realização de um progresso de tipo dromocrático, a
humanidade perderá a diversidade; para assumir um estado de fato, ela tenderá a
cindir-se unicamente em “povos que esperam” (a quem é permitido esperar, em
futuro, chegar à velocidade que capitalizam dando-lhes acesso ao possível, isto
é, ao projeto, à decisão, ao infinito; “a velocidade é a esperança do Ocidente”
) e “povos que desesperam”, bloqueados pela inferioridade de seus veículos
técnicos, que moram e subsistem em um mundo finito.” Paul Virilio, “Vitesse e
politique”, 1977, p.54.
6) “Onde quer que o espírito europeu domine, vemos surgir o
máximo de “necessidades”, o máximo de “trabalho”, o máximo de “capital”, o
máximo de “rendimento”, o máximo de “ambição”, o máximo de “poder”, o máximo de
“modificação da natureza exterior”, o máximo de “relações” e “trocas”.” Paul
Valéry, 1922, in “Oeuvres”, La Pléiade, vol. I, p. 1014 (grifo do autor). Citado
por Michel Beaud (frontispício), Le Système national mondial hiérarchisé, 1987,
p.4, que tirou a citação de Pierre Pascallon, Cahiers d’économie personaliste,
nº4, 1986, p.23.
7) “Hoje […] é o presente que assume todo o espaço e se dá
como representação global do tempo […] que se substitui à profundidade da
duração.” Roger Sue, 1994.
8) A esse respeito, e mais especificamente sobre as
periodizações, ver Ernest Gellner, “El Arado, la Espada u el Libro”, mencionado
po José Luiz Rodrigues Garcia, “Nuestros magníficos pasados”, in La Esfera, “El
Mundo”, Madri, 9 de abril de 1994, p.
(Do livro: “A natureza do espaço” – Milton Santos, ed.
Hucitec, São Paulo – 1996)