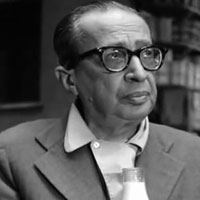Um quixote face ao livre mercado
Clóvis Marques
(Noam Chomsky)
Noam Chomsky é este espécime raro: um intelectual não cooptado que não veio para defender interesses nem vender algum produto. Diretor do Departamento de Linguística do Massachusetts Institute of Techology, mas militando cada vez mais na área da contrainformação política, ele é o mais consistente quixote a investir nos Estados Unidos contra o pensamento único, a religião do Mercado que nos trombeteia como verdades os interesses dos ricos e poderosos deste mundo. Para uma platéia, que se diria convertida, mas que nem por isto aprendeu menos, Chomsky apresentou ontem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a convite da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (Coppe), uma visão das contradições da democracia tal como pregada por esses interesses, de um lado e, de outro, praticada na dura realidade dos povos a eles submetidos.
A conferência de Chomsky, “O velho e o novo na ordem internacional”, pareceria um compêndio de esquerdíssimo à antiga se não fosse uma aula de bom senso no terreno do óbvio habitualmente camuflado – e se não falasse de coisas que nada têm de superadas, pelo contrário. Contém informação fresca de documentos diplomáticos liberados pelo governo americano, mas o teor destes no fundo não é tão novo. O interesse principal está na maneira como Chomsky articula as informações e a voz semi-apagada da história para pintar o quadro geral da contradição entre o que apregoa a já chamada “doutrina Clinton” e o que ela pretende – e consegue – de fato. Que está por trás da “democracia” e da “abertura de mercados” que constituem os troféus da “vitória da América” após o fim da Guerra Fria?
Paradoxos – Com seu humor understand e seu talento para o paradoxo, Chomky enumera os fatos demonstrativos de que o livre mercado é bom para os outros, de que nenhum país jamais acumulou riqueza e poder – ou os mantém – sem protecionismo, e passa em revista alguns feitos da política americana para a América Latina nos últimos decênios.
Como o caso do Haiti: um presidente incômodo (Aristide) derrubado por “forças que mantinham e continuam mantendo ligações estreitas com Washington”; “os governos Bush e Clinton autorizaram secretamente a Texaco a abastecer os líderes do golpe, violando as sanções oficiais”; Aristide reintronizado depois de “abandonar os programas democráticos e reformistas que escandalizavam Washington e passar a seguir a política do candidato que Washington apoiava na eleição de 1990, e que obteve 14% dos votos”.
No caso brasileiro, Chomsky conta com detalhes saborosos – ou amargos, c’est selon – histórias já sabidas sobre a “americanização do Brasil” (título de um livro de Gerald Haines, historiador e agente da CIA) a partir de 1945 e a troca da “defesa hemisférica” pela “segurança interna” na agenda dos militares brasileiros, por iniciativa de John Kennedy. Sempre frisando o interesse de contratar o discurso público oficial com o que rezam os documentos tornados públicos décadas depois (uma vantagem da democracia americana), ele culmina sua demonstração com o caso americano em si, ou a “construção do consenso” que seria a “essência do processo democrático”, desde a defesa pré-capitalista dos interesses agrários pelo pai da pátria James Madison, preocupado em deixar a arena política sob o controle “do conjunto dos homens mais capazes”, ao ideal Wilsoniano do início deste século, empenhado em confiar o processo decisório a uma elite de cavalheiros de “ideais elevados”. Um ideal cuja degradação caricatural se configura nas teorias do cronista Walter Lippmann, que à “classe especializada” opunha o público geral “ignorante” a ser “mantido em seu lugar” como espectador.
Corporativismo – Com a ajuda da violência quando necessário (no exterior) e da propaganda sempre, a democracia que saiu “vitoriosa” após a Guerra Fria foi portanto a do “controle de cima para baixo para proteger a minoria dos opulentos”. Quanto ao livre mercado, Chomsky invoca o exemplo do Nafta mais uma vez: projetado para criar obstáculos para os concorrentes do Leste asiático e da Europa, o acordo significa que metade das “exportações” americanas para o México nunca entram no mercado mexicano; são transferidas de uma filial da empresa americana para outra, atravessando a fronteira para usar a mão-de-obra barata e tangenciar outras regulamentações, retornando aos EUA como “importações”. “ Cerca de metade do comércio americano em todo o mundo consiste em transações no interior de instituições centralmente controladas que são totalitárias em sua estrutura e praticamente livres de controles públicos. O mesmo se dá com o Japão e outras potências industrializadas. Certos economistas se referem ao sistema mundial como de “mercantilismo corporativo” muito distante do ideal do livre comércio”, diz Chomsky.
Entre a “doutrina oficial” do livre mercado e a “doutrina existente na realidade”, Chomsky historia os grandes movimentos de intervenção estatal para gerir o crescimento econômico – do monopólio do algodão para os britânicos novecentistas à ajuda reaganiana às indústrias de ponta – e se detém na rebeldia de japoneses, coreanos e formosinos às prédicas ocidentais: são sociedades que construíram sua grandeza econômica com “estratégias de Estado empreendedor”; sociedades que não engoliram a religião de que “o mercado sabe o que faz”; sociedades que, ao contrário das da América Latina, não são campeãs ao mesmo tempo de complacência com o capital estrangeiro e de desigualdades.