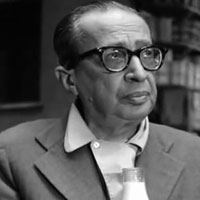O torpor do capitalismo
Publicado em 11/02/96 no caderno Mais! da Folha de São Paulo.
Há uma concepção ingênua, porém sensata, sobre a produtividade: quanto mais ela cresce, assim pensa o bom raciocínio humano, mais alívio traz à vida em comum. A maior produtividade permite fabricar mais bens com menos trabalho. Não é maravilhoso? Em nossa época, no entanto, parece que o aumento da produtividade, além de criar uma quantidade exagerada de bens, resultou numa avalanche de desemprego e de miséria.
Desde o final dos anos 70, os sociólogos costumam falar de um desemprego tecnológico ou “estrutural”. Isso significa que o desemprego desenvolve-se com independência dos movimentos conjunturais da economia e cresce até mesmo em períodos de surto financeiro. Nos anos 80 e 90, a base desse desemprego estrutural, de ciclo para ciclo, tornou-se cada vez maior em quase todos os países; em 1995, segundo números da Organização Internacional do Trabalho, 30% da população economicamente ativa de todo o mundo não possuía emprego estável.
Essa triste realidade, além de incompatível com o bom raciocínio humano, suscitou uma curiosa reação dos economistas. Os doutores em ciências econômicas agem como se o fenômeno irracional do desemprego em massa não tenha absolutamente nada a ver com as leis da economia moderna; as causas, segundo eles, devem ser buscadas em fatores alheios à economia, sobretudo na política financeira equivocada dos governos.
Ao mesmo tempo, porém, os mesmos economistas afirmam que o aumento da produtividade não diminui o número de empregos, mas é responsável, ao contrário, pelo seu crescimento. Isso foi comprovado pela história da modernidade. O que para o observador imparcial se assemelha à causa da doença, deve assim integrar a própria receita para a cura. Os economistas operam com uma equação que mais parece um sofisma. Onde está o erro?
Um axioma da teoria econômica afirma que o objetivo da produção é suprir a falta de bens da população. Ora, isso é uma pura banalidade. Todos sabem que o objetivo da produção moderna é originar um lucro privado. A venda dos bens produzidos deve render mais dinheiro do que o custo de sua produção. Qual a relação interna entre esses dois objetivos? Os economistas dizem que o segundo objetivo é apenas um meio (na verdade o melhor meio) de atingir a primeira meta. E, no entanto, é evidente que ambos objetivos não são idênticos; o primeiro refere-se à economia como um todo, o segundo à economia das empresas. Disso resultam contradições que, desde seu início, tornaram instável o sistema econômico moderno.
A idéia tão natural de que o aumento da produtividade facilita a vida dos homens não leva em conta a racionalidade das empresas. Na verdade, trata-se de saber qual será o uso de uma maior capacidade produtiva. Se a produção visa a suprir as próprias necessidades, a evolução dos métodos e dos meios será utilizada simplesmente para trabalhar menos e desfrutar do maior tempo livre.
Um produtor de bens para o mercado, no entanto, pode ter a brilhante idéia de trabalhar tanto quanto agora e utilizar a produtividade adicional para produzir uma quantidade ainda maior de mercadorias, a fim de ganhar mais dinheiro em vez de aproveitar o ócio. Um administrador de empresas é mesmo forçado a chegar a essa idéia, pois de nada lhe serve que os assalariados conquistem um maior espaço de tempo livre. Para ele, a produtividade adicional representa de qualquer modo um trunfo contra a concorrência, sendo revertida em benefício da diminuição dos custos da empresa, e não em favor da maior comodidade dos produtores.
É por isso que, na história econômica moderna, a jornada de trabalho diminuiu numa proporção muito menor do que o aumento correspondente de produtividade. Hoje em dia, os assalariados ainda trabalham mais e durante mais tempo do que os camponeses da Idade Média.
A diminuição dos custos, portanto, não significa que os trabalhadores trabalham menos mantendo a mesma produção, mas que menos trabalhadores produzem mais produtos. O aumento da produtividade reparte seus frutos de forma extremamente desigual: enquanto trabalhadores “supérfluos” são demitidos, crescem os lucros dos empresários. Mas, se todas as empresas entrarem nesse processo, há a ameaça de surgir um efeito com que não contavam os interesses obtusos da economia empresarial: com o crescente desemprego, diminui o poder de compra da sociedade. Quem comprará então a quantidade cada vez maior de mercadorias?
As guildas dos artesãos da Idade Média pressentiram esse perigo. Para elas era um pecado e um crime fazer concorrência aos colegas por meio do aumento de produtividade e tentar conduzi-los a todo custo à ruína. Os métodos de produção eram por isso rigidamente fixados, e ninguém os podia modificar sem o consentimento das guildas. O que impedia um desenvolvimento tecnológico era menos a incapacidade técnica do que essa organização social estática dos artesãos. Estes não produziam para um mercado no sentido moderno, mas para um mercado regional limitado, livre de concorrência. Essa ordem de produção durou mais tempo do que geralmente se supõe. Em grande parte da Alemanha, a introdução de máquinas foi proibida pela polícia até meados do século 18.
A Inglaterra, como se sabe, foi a primeira a derrubar tal proibição. O caminho, assim, ficou livre para as invenções técnicas como o tear mecânico e a máquina a vapor, os dois motores da industrialização. E, súbito, irrompeu a temida catástrofe social: em toda a Europa, na passagem do século 18 para o 19, alastrou-se o primeiro desemprego tecnológico em massa.
Tudo isso é passado, dizem os economistas: a evolução posterior não demonstrou que os temores eram infundados? De fato, apesar da expansão contínua das novas forças produtivas do ramo industrial, o desemprego tecnológico caiu rapidamente. Mas por que motivo? Acossados pela concorrência recíproca, os industriais foram obrigados a restituir aos consumidores parte de seus ganhos com a produção. As máquinas tornaram os produtos essencialmente mais baratos ao consumidor.
Embora para a produção de uma certa quantidade de produtos têxteis fosse necessária uma força de trabalho menor do que antes, a demanda por roupas e tecidos baratos cresceu tanto que, ao contrário das expectativas, um número considerável de trabalhadores foi empregado nas novas indústrias.
Com isso, porém, o problema não foi solucionado pela raiz. Todo mercado, a seu tempo, atinge um limite de saturação que o torna incapaz de conquistar novas camadas de consumidores. Somente numa certa fase da evolução o aumento da produtividade conduz à criação de mais empregos para a sociedade, apesar da menor quantidade de trabalho necessária para a confecção de cada produto.
Nessa fase, os métodos desenvolvidos barateiam o produto e o preparam ao grande consumo das massas. Antes de alcançar esse estágio, o aumento de produtividade lança o antigo modo de produção numa profunda crise, como mostra o exemplo dos artesãos têxteis no século 19. Na outra ponta do desenvolvimento, a crise é igualmente uma ameaça (com base na própria produção industrial), quando o estágio de expansão é ultrapassado e os mercados periféricos encontram-se saturados.
Mas essa mesma expansão ainda pode ser transferida a outros setores. Ao longo do século 19, os antigos redutos artesanais foram progressivamente industrializados. Cada vez mais produtos tiveram seus preços reduzidos e permitiram a explosão do mercado. O processo sofreu uma tal aceleração que os artesãos “supérfluos” eram imediatamente absorvidos pelo trabalho industrial, evitando assim que se repetisse a grande crise social dos antigos produtores têxteis.
As crises, mesmo que inevitáveis, pareciam somente transições dolorosas para se atingir novos patamares de prosperidade. Mas o que ocorre quando todos os ramos da produção já estão industrializados e todos os limites de expansão do mercado já foram alcançados?
O desenvolvimento econômico parecia refutar também esse receio. A indústria não apenas absorveu os antigos ramos da produção artesanal, mas também criou a partir de si mesma novos setores produtivos, inventou produtos jamais imaginados e infundiu a sede de compra nos consumidores. O processo de aumento da produtividade, expansão e saturação dos mercados, criação de novas necessidades e nova expansão parecia não ter limites.
Economistas como Joseph Schumpeter e Nikolai Kondratieff formularam, a partir dessas idéias, a teoria dos chamados “grandes ciclos” no desenvolvimento da economia moderna. Segundo essa teoria, uma certa combinação de indústrias sempre atinge seu limite histórico de saturação, envelhece e começa a encolher, após uma fase de expansão impetuosa. Empresários inovadores, na condição de “destruidores criativos” (Schumpeter), inventam todavia novos produtos, novos métodos e novas indústrias que libertam o capital dos antigos investimentos estagnados e lhes dá novo alento num corpo tecnológico renovado.
O exemplo lapidar desse nascimento de um novo ciclo é a indústria automobilística. Em 1886, o engenheiro alemão Carl Benz já tinha construído o primeiro carro; mas até a Primeira Guerra Mundial, tal mercadoria permaneceu um produto de luxo extremamente caro. Como que egresso das páginas do livro-texto de Schumpeter, surgiu então o empresário inovador Henry Ford. Sua criação não foi o próprio automóvel, mas um novo método de produção.
No século 19, a produtividade cresceu sobretudo pelo fato de os ramos artesanais terem sido industrializados por meio da instalação de máquinas. A organização interna da própria indústria ainda não fora objeto de grandes cuidados. Só após 1900 o engenheiro norte-americano Frederick Taylor desenvolveu um sistema de “administração científica”, a fim de desmembrar as áreas de trabalho específicas e aumentar a produção.
Ford descobriu por meio desse sistema reservas insuspeitadas de produtividade na organização do processo produtivo. Observou, por exemplo, que um operário da linha de montagem perdia em média muito tempo ao buscar parafusos. Estes foram então transportados diretamente ao local de trabalho. Parte do processo tornou-se “supérfluo” e, logo em seguida, foi introduzida a esteira rolante.
Os resultados foram surpreendentes. Até a Primeira Guerra, a capacidade produtiva de uma fábrica de automóveis de porte médio permanecia em torno dos 10 mil carros por ano; em Detroit, a nova fábrica de Ford produziu, no exercício financeiro de 1914, a fantástica cifra de 248 mil unidades do seu célebre “Modell T”. Os novos métodos deflagraram uma nova revolução industrial. Mas tal revolução “fordista” ocorreu tarde demais para poder evitar a crise econômica mundial (1929-33), desencadeada pelos custos da guerra e pelo declínio global do comércio.
Depois de 1945, porém, sobreveio o “grande ciclo” da produção industrial de automóveis, aparelhos domésticos, divertimentos eletrônicos etc. Baseado no antigo modelo, só que agora em dimensões muito maiores, o aumento da produtividade criou um número espantoso de novos empregos, já que a expansão do mercado de carros, geladeiras, televisões etc, exigia, em termos absolutos, mais trabalho do que os métodos “fordistas”, em termos relativos, economizavam em cada produto.
Nos anos 70, as indústrias fordistas atingiram seu nível histórico de saturação. Desde então vivemos a terceira revolução industrial, da microeletrônica. Cheio de esperanças, alguém se lembrou imediatamente de Schumpeter. De fato, os novos produtos passaram por um processo semelhante de barateamento, à maneira dos automóveis e das geladeiras: o computador, antes um aparelho caro e destinado a grandes empresas, transformou-se rapidamente num produto de consumo das massas. Desta vez, porém, o surto econômico não causou o correspondente aumento de empregos.
Pela primeira vez na história da modernidade, uma nova tecnologia é capaz de economizar mais trabalho, em termos absolutos, do que o necessário para a expansão dos mercados de novos produtos. Na terceira revolução industrial, a capacidade de racionalização é maior do que a capacidade de expansão. A eficácia de uma fase expansiva, criadora de empregos, deixou de existir. O desemprego tecnológico da antiga história da industrialização faz seu retorno triunfal, só que agora não se limita a um ramo da produção, mas se espalha por todas as indústrias, por todo o planeta.
O próprio interesse econômico das empresas conduz ao absurdo. Já é tempo, depois de 200 anos de era moderna, que o aumento da produtividade sirva para trabalhar menos e viver melhor. O sistema de mercado, porém, não foi feito para isso. Sua ação restringe-se a transformar o excedente produtivo em mais produção e, portanto, em mais desemprego. Os economistas não querem compreender que a terceira revolução industrial possui uma qualidade nova, em cujo meio a teoria de Schumpeter não é mais válida. Em vão, eles ainda esperam o “grande ciclo” da microeletrônica _em vão, ainda esperam Godot.