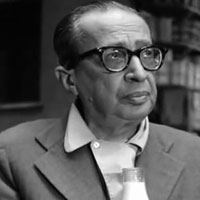O homem reduzido
Publicado em 12/01/97 no caderno Mais! da Folha de São Paulo.
Quando o físico e romancista britânico Charles P. Snow avançou em 1959 sua tese das “duas culturas”, com ela não somente conquistou um eco universal, mas cunhou também um topos da discussão cultural e sociopolítica. As “duas culturas” são a oposição entre os mundos da ciência humana e da literatura, de um lado, e, de outro, os da técnica e da ciência natural, mundos estes que, desde o século 19, se apartam cada vez mais. A controvérsia que se instaurou a respeito, todavia, permaneceu um tanto superficial. Isso porque o problema decisivo, a radicação das duas “culturas” antagônicas numa determinada ordem social histórica, quase não foi posto em litígio.
O debate sobre a tese de Snow referiu-se mais à relação das ciências naturais com a literatura e a filologia, e menos à relação das ciências naturais com a teoria social. Snow, é verdade, ao complementar seu estudo em 1963, admitiu que talvez se pudesse ainda falar de uma “terceira cultura”, mas isso não passou de um comentário marginal.
O discurso sobre as “duas culturas” toldou, nesse sentido, o verdadeiro problema, ao concentrar-se não numa luta por posições entre as ciências naturais e as ciências humanas, mas na relação polar entre as ciências naturais e os procedimentos artístico-literários. Essa oposição pôde assumir o aspecto de uma desavença familiar dentro da intelligentsia burguesa, na qual a ciência natural, uma espécie de irmã mais velha ajuizada, levava a melhor sobre os representantes da “intelligentsia estética”, a quem se podia facilmente tachar de “analfabetos da ciência”.
No fundo, o debate sobre as “duas culturas” já pressupõe que “a” ciência seja a ciência natural. A possível batalha pelo primado entre a teoria social e as ciências naturais foi decidida a favor das últimas, antes mesmo que pudesse ter início. A questão da “terceira cultura” foi em grande parte ofuscada. Como mostrou a “querela do positivismo” na sociologia alemã -travada também nos anos 60 entre os minoritários da “teoria crítica” de Adorno e Horkheimer, de um lado, e, de outro, a ciência humana oficial-, o “mainstream” das ciências sociais há muito se pôs do lado dos fundamentos e métodos ditados pelas ciências naturais.
Ao emancipar-se desse positivismo das ciências naturais e converter-se em crítica radical da sociedade ou implicar essa última, no fundo a teoria social deixa de ser uma “disciplina” acadêmica. Isso se deve, claro, ao caráter institucional do próprio modelo científico, que por sua forma é “ritualizado” à moda burguesa e não possui vocação de crítica radical, sendo antes parte integrante da ordem vigente com sua falsa pretensão de objetividade.
Se no declínio da ordem pré-moderna foram sobretudo as novas ciências naturais que, modificando a concepção de mundo, causaram escândalo e acabaram perseguidas pelas autoridades, durante a história de modernização capitalista foi a teoria social, por sua vez, que passou a ser objeto potencial de perseguição, fosse diretamente pelo Estado e pela polícia, fosse mais sutilmente pelos critérios restritivos (tanto de conteúdo quanto de método) da “reputação científica”. Por isso, inovações relevantes da crítica social na modernidade, semelhantes -na forma- à criativa “boemia” artística, não raro surgiram fora ou à margem da ciência oficial, a exemplo de Rousseau no século 18, Marx no século 19 e a “Teoria Crítica” ou mesmo os situacionistas franceses (Guy Debord) no século 20.
O neomarxismo acadêmico dos anos 70, boa parte dele estéril, só pôde dissimular por alguns momentos -fenômeno da moda que era- o fato de a teoria crítica da sociedade no fundo representar pouco mais que uma “gata borralheira” da academia, como já se evidenciara no debate mais ou menos paralelo sobre as “duas culturas”. Hoje a crítica radical da sociedade desapareceu quase totalmente da ciência acadêmica. Como último resquício de um pensamento social irredutível ao paradigma das ciências naturais restou apenas a chamada “ética”, uma “doutrina do comportamento” de todo acrítica, individualista e institucional em relação ao capitalismo, a qual se insinua como modesta oficina de reparos para colisões sociais. A “empresa ética” que grassa hoje é o retrato da teoria social acadêmica após sua capitulação incondicional.
As disciplinas históricas e sociológicas são segregadas tanto em termos de método quanto de conteúdo, são quase “perfumaria”. O triunfo da ciência natural sobre o pensamento crítico da sociedade e sua entronização como “a” ciência não é obra do acaso. Isso porque a ciência natural moderna e a ordem social capitalista dominante têm uma origem histórica comum. A ciência natural foi de certo modo a “ciência caseira” do capitalismo ascendente, foi ela que forneceu um paradigma para uma “objetividade” sem sujeito. A ela pôde atrelar-se a apologética economia política, que representava de certa forma o “cavalo de Tróia” do pensamento das ciências naturais na teoria social. Desde o princípio, ciência natural e economia uniram-se contra o pensamento de crítica social, para afinal expulsá-lo de vez do panteão da ciência moderna.
O triunfo da ciência natural e da economia pseudocientífica sobre a crítica social revela-se em dois pontos comuns e essenciais de seus “métodos”: funcionalismo, de um lado, e reducionismo, de outro. Funcionalismo significa não se perguntar pelo fundo, mas somente pela forma, pelo modo de “funcionar”, ao passo que a essência, o “sentido”, o verdadeiro âmago do objeto é pressuposto sem reflexão e permanece à parte do interesse científico, um caso para a “infrutífera metafísica”, para a religião, para a “opinião” meramente subjetiva.
Na “ciência”, os objetos dissolvem-se em suas funções. Na práxis social, trata-se daquela “razão instrumental” criticada por Horkheimer e Adorno, que dá margem a manipulações segundo o fim tautológico cegamente pressuposto da valorização do capital, em que tanto a ciência natural e a técnica quanto a economia teórica acham-se banidas.
Reducionismo significa, ao menos segundo a intenção, que objetos e formas de ordem superior sejam reduzidos a meras “combinações” de objetos e formas de ordem inferior. Economia e ciência natural concordam em grande parte que espírito, cultura e sociedade possam remontar a elementos biológicos ou mesmo econômicos (funções), e esses, por sua vez, a elementos físicos. A consciência humana, o pensar e as formas de interação social a eles conexas devem ser reduzidos a processos neurobiológicos no cérebro.
A famigerada “fórmula universal” buscada pelos físicos seria o coroamento desse reducionismo. Que só poderia ser, no entanto, uma fórmula vazia, pois a consciência resulta tão pouco da descrição de processos neurobiológicos quanto o conteúdo de um livro, digamos, sobre os descalabros intelectuais da ciência natural e da economia resulta da descrição da técnica de impressão gráfica, da estrutura molecular do papel utilizado ou dos pigmentos das letras impressas. A consciência supõe “significado” de conteúdo, e isso é “fundo”, não “forma”, que jamais é idêntico à execução de funções neurobiológicas. Com relação ao “significado” e ao conteúdo, a pesquisa científica neurológica só pode expor-se ao ridículo.
Algo semelhante ao reducionismo das ciências naturais afeta o pensamento econômico. Desde as hoje ressuscitadas “leis populacionais” de um Malthus, passando pela doutrina sociodarwinista do “survival of the fittest” (sobrevivência do mais apto), até a suposta predisposição “genética” à pobreza, ele biologiza a sociedade para então novamente dissolver esse reino animal de seres humanos em categorias pseudofísicas, tais como um mecanismo “natural” de preço, um “desemprego natural” (Friedman) etc.
Tanto para a natureza quanto para a sociedade, o enlace desse funcionalismo reducionista com esse reducionismo funcional desenvolve potenciais destrutivos. É por isso que a ciência natural e a economia, apesar de seu patente sucesso na manipulação do homem e da natureza, acabou por não trazer melhora nenhuma às condições de vida. A economia não se cansa de produzir novos surtos de pobreza e crises, a ciência natural, novos “artefatos de destruição”. Mas esse infeliz resultado não remonta a um “abuso” contingente, a uma simples “utilização” equivocada da “cientificidade” legítima, antes está radicado nos próprios procedimentos, nos axiomas e no sistema de categorias da ciência natural e da economia. Não estamos às voltas aqui com uma objetividade absoluta e a-histórica, senão com um mundo filtrado pelas formas do moderno sistema produtor de mercadorias, que se fazem passar por um a priori absoluto não apenas no pensamento econômico, mas também no científico.
Para poder criticar, no interesse da emancipação humana, esse nexo categórico entre a ciência natural e a economia de produção mercantil, temos de evitar diversas armadilhas. Não é uma alternativa, por exemplo, criticar o pensamento físico mecanicista desde Descartes em nome de um “organicismo” biológico, tal como tentou a chamada filosofia da vida na virada do século passado.
Isso não seria mais que jogar o reducionismo biológico contra o físico (com as reacionárias consequências sociopolíticas de praxe), em vez de formular propriamente uma crítica do reducionismo científico. O escândalo do paradigma científico é duplo: em última análise, ele não é capaz de distinguir nem entre objetos mortos e vivos, nem entre biologia e sociedade. Ambos os aspectos desse processo duplo de redução científica devem ser criticados para superar o nefasto discurso econômico-científico.
Também não é uma alternativa buscar refúgio num cosmos religioso da pré-modernidade reproduzido sinteticamente. Uma ordem simbólica desse tipo, com uma cosmovisão coerente, faz parte irrevogável da história; toda tentativa de reavivá-lo só pode redundar num obscurantismo ainda mais irracional. A embromação da indústria esotérica, comercializada a extremos, não supera o reducionismo (e funcionalismo) econômico-científico, antes só o complementa.
Não raro, são os próprios cientistas e economistas que cultuam seu “deus pessoal” ou lêem sua sorte nas cartas. O objetivo não pode ser um recuo reacionário a formas de reflexão anteriores à ciência moderna, mas somente um avanço para além delas. Ora, a forma dessa crítica é necessariamente a teoria social, cuja esfera de aplicação devia ser estendida às ciências naturais, ou melhor, às raízes históricas comuns do capitalismo, da ciência natural e da economia teórica.
Não se trata simplesmente de negar os conhecimentos científicos atuais ou aceitar “lado a lado”, sem reflexão, práticas culturais divergentes, tais como a magia das danças da chuva e a meteorologia moderna, como sugeriu Paul Feyerabend, antigo teórico positivista da ciência, após o colapso de sua imagem científica do mundo. Um caso ainda pior é o do físico norte-americano Fritjof Capra, que traça paralelos superficiais entre a mística do Extremo Oriente e a física moderna, reunindo-as num moralismo raso.
A tarefa é muito mais complicada. Cumpre “historicizar” a ciência natural e submetê-la a uma auto-reflexão social: ela não é uma relação imediata “do” ser humano com a natureza “objetiva”, antes vem sempre filtrada pelo caráter social dos sujeitos que percebem e pesquisam. A ciência natural, claro, não é uma ciência da sociedade, e isso pelo próprio âmbito de seu objeto, mas é, sim, uma ciência social, devendo ser apreendida, nesse sentido, como fenômeno de uma certa “subjetividade histórica” -e seus axiomas, categorias e procedimentos, decifrados como formas sociais de percepção.
Esta, portanto, é a grande questão: em que consiste, do prisma da teoria do conhecimento e da práxis social, de uma “visão de mundo”, o nexo formal comum e historicamente limitado entre capitalismo e ciência natural, nexo este que cabe ser superado? A tarefa consistiria, nesse sentido, em vincular a crítica à pseudo-objetividade das categorias econômicas modernas a uma crítica correspondente à forma socialmente mediada das ciências naturais, a fim de “enxergá-las” de alto a baixo com as lentes da crítica social, pulverizando a interpretação sociotecnológica ou sociobiológica e evidenciando seu âmbito de aplicação limitado. Há muito tempo a própria física chegou a seus limites, que simplesmente não são reconhecidos como limites histórico-sociais. Talvez o previsível fiasco da “fórmula universal” seja a gota d’água para que a ciência natural comece a tomar consciência crítica de sua forma social negativa.
Para desvendar o caráter irracional da moderna racionalidade econômica e científica, os teóricos da sociedade teriam, é claro, de superar seu “analfabetismo” científico, e os cientistas, seu “analfabetismo” social. Uma tal perspectiva exige também uma crítica social do modelo científico.O sistema dos “especialistas bitolados”, inflexível como é, não produzirá mais novos conhecimentos que abalarão o mundo.