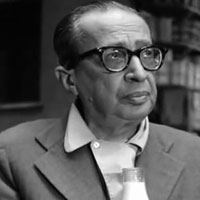Totalitarismo econômico
Publicado em 22/08/99 no caderno Mais! da Folha de São Paulo.
O termo “totalitarismo” tornou-se uma espécie de bicho-papão para a filosofia política ocidental. Totalitário é sempre aquilo que não passa por economia de mercado ou democracia: a pretensão exclusiva de um partido ao controle político; um aparato burocrático centralista; a repressão a qualquer movimento de oposição; um sistema de poder ilimitado, que galvaniza todas as esferas da vida e penetra até mesmo na intimidade. A democracia, ao contrário, assim dizem, traz a todos a felicidade sem ferir idiossincrasias: ela é sequiosa de oposição; o pluralismo das idéias e dos projetos de vida é respeitado; a esfera privada é tabu para o poder social, permitindo-se em paz que as pessoas sejam diferentes.
A história do século 20, dessa maneira, pode ser entendida como um conflito básico entre a democracia liberal e a ditadura totalitária. Ao menos isso é o que consta dos livros-textos ocidentais. Dessa perspectiva, as ditaduras de Hitler e Stálin no passado foram totalitárias, e hoje o são talvez os “Estados religiosos” do fundamentalismo islâmico. Seja como for, o totalitarismo é tido como um pensamento alheio e antagônico à liberdade ocidental, um ideário cuja existência sombria pode ser a todo momento invocada como perigo iminente.
Salta à vista que, nessa “teoria do totalitarismo” das duas esferas polares da sociedade moderna, somente a esfera político-estatal é mencionada, enquanto a econômica permanece de todo ofuscada. Nesse sentido, só pode existir um Estado totalitário, mas aparentemente não uma economia totalitária, um modo de produção totalitário, um mercado totalitário. O axioma dessa consideração unilateral é que apenas o Estado e a política integram o âmbito social, enquanto a economia -como já postulavam, no século 18, os fisiocratas e Adam Smith- pertence supostamente à “natureza” e extrapola, com isso, a teoria social em sentido estrito.
Ora, “leis naturais” não podem ser totalitárias e ameaçar a liberdade; é preciso aceitá-las como ao tempo. Com esse truque grosseiro o liberalismo buscou desde o princípio tornar o centro econômico da modernidade inacessível à reflexão crítica, silenciando, ao mesmo tempo, o fato de que as ditaduras totalitárias do período entre guerras possuíam ao menos uma coisa em comum com a democracia: as formas econômicas do moderno sistema produtor de mercadorias.
O conceito de totalidade é oriundo da filosofia do século 19. Em Hegel, sobretudo, ele se vincula à tentativa de subsumir o mundo num único “conceito total”, concebendo-o, portanto, em sua plenitude. Não é difícil reconhecer o pano de fundo social desse pensamento no fato de o ser humano e a natureza deverem se submeter “totalmente” à máquina social capitalista, a fim de transformar cada átomo ideal, cada idéia e cada sentimento em material do processo de valorização. Na verdade é a própria lógica econômica do capitalismo, portanto, que suscita a vocação totalitária; e, com a transfiguração ideológica dessa vocação em “lei natural”, o liberalismo busca apenas camuflar seu próprio âmago ditatorial. Dizia Henry Ford que os compradores de seu “Modelo T” poderiam adquiri-lo em qualquer cor que desejassem, contanto que ela fosse preta; do mesmo modo, o pluralismo liberal dá crédito a todas as idéias e a todos os objetos, desde que possam ser comercializados.
Até meados do século 20, esse totalitarismo econômico esteve longe da perfeição. Ainda havia elementos de um modo de produção mais arcaico, de bases agrárias e comunais, como também esferas culturais da vida que se furtavam ao espaço-tempo abstrato do capitalismo. Para tornar os indivíduos material humano das máquinas capitalistas era necessário primeiro uma mobilização política das massas: a esfera política ganhou nessa época um aspecto de “energia armazenada”, servindo como uma espécie de resistor que se carregava, por assim dizer, a fim de pôr em funcionamento o totalitarismo econômico.
Nesse sentido, agiu como poderoso rastilho a implementação da política de massas por intermédio da mobilização militar. Foi nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial que se criou o protótipo democrático. Em seu famoso romance de guerra “Nada de Novo no Front”, escreve o autor alemão Erich Maria Remarque: “As diferenças que a educação e a cultura criaram estão quase apagadas e mal são reconhecidas. É como se antes tivéssemos sido moedas de diversos países; passamos por um processo de fundição e agora todos têm a mesma cunhagem”.
A igualdade democrática perante a moeda, que até então só fora posta em prática de maneira insatisfatória, não pôde ser preparada senão na forma de uma igualdade da morte e da mutilação nos “moinhos de sangue” da Primeira Guerra Mundial. Essa forma arquetípica de democracia no século 20 brindou finalmente os indivíduos com a igualdade de exemplares isolados.
Sob determinadas condições históricas, como na Rússia e na Alemanha, o avanço desse processo social assumiu a forma do movimento totalitário de massas e da ditadura; mas também nos Estados Unidos a mobilização do “New Deal” foi acompanhada de paradas militares, cortejos de mísseis e o foguetório da propaganda política. Tratava-se de abarcar a sociedade “como um todo” e de lhe “dar uma sacudida”, para muito além dos objetivos políticos e militares imediatos.
O escritor alemão Ernst Jünger cunhou para tanto, em 1934, o conceito de “mobilização total”. A “mobilização parcial” prendia-se à “essência da monarquia”, que, como dizia ele, “transgride seus limites à medida que é obrigada a inserir as formas abstratas do espírito, do dinheiro, do “povo”, em suma, das forças da crescente democracia, no contexto armamentista”. Jünger divisava por isso na democracia ocidental sobretudo uma forma mais elevada de exaurir todas as reservas sociais: “Foi assim que a mobilização nos Estados Unidos, um país de constituição muito democrática, pôde ser efetuada com medidas de uma virulência que teriam sido impossíveis no Estado militar prussiano (…). Já nessa guerra não se tratava de saber se um Estado era militarizado ou não, mas de saber se era capaz da mobilização total”.
Que esse processo transcendia em muito os propósitos puramente militares não escapou também ao general alemão Ernst Ludendorff, que em 1935 escreveu num tratado sobre a “guerra total”: “A guerra total, que não é assunto apenas das forças beligerantes, mas fala de perto também à vida e à alma (!) de cada membro isolado dos povos em pé de guerra, aqui teve seu início (…). Desde então a guerra total ganhou em profundidade com a melhoria e a multiplicação das aeronaves, das bombas de toda espécie, mas também das folhas volantes e dos demais materiais de propaganda despejados sobre o povo, e com a melhoria e a multiplicação da aparelhagem de radiodifusão voltada contra o inimigo”.
Mas, se o propósito secreto dessa “mobilização total” consistia, em última análise, em pôr em prática a vocação totalitária da economia capitalista, então o “movimento” político-militar na primeira metade do século 20 pode ser facilmente decifrado como um estágio preparatório para cortar as peias ao “mercado total”, coisa que se deu a partir de 1950. Nas democracias comerciais do pós-guerra, as “bombas de toda espécie, as folhas volantes e os demais materiais de propaganda” de Ludendorff transformaram-se na metralha giratória da publicidade e na tagarelice da mídia, que como apelo visual e acústico preenche todo o espaço público, assumindo traços francamente terroristas: eis que ninguém é capaz de esquivar-se a esse lero-lero infindo e a sua despudorada impertinência. O que aqui “volta-se contra o inimigo” (e o “inimigo” são tudo e todos na guerra permanente pela clientela, por postos de trabalho, carreiras, prestígio etc. num mundo capitalizado até a medula) excede em todos os aspectos os primórdios militares da “guerra total” entre 1914 e 1945.
Lemos assim o conceito de totalitarismo a contrapelo da ideologia legitimadora ocidental. Isso é tanto mais evidente num clássico da “teoria do totalitarismo”, o livro da filósofa norte-americana Hannah Arendt sobre as “Origens do Totalitarismo”. Nele podemos ler: “Nada é mais característico dos movimentos totalitários em geral, e da natureza da glória de seus líderes, do que a espantosa rapidez com que eles podem ser esquecidos e a espantosa facilidade com que podem ser substituídos (…). Essa instabilidade tem certamente algo a ver (…) com a avidez de mobilidade dos movimentos totalitários, que só conseguem subsistir enquanto se mantiverem em movimento e puserem em movimento tudo a seu redor (…); é justamente essa capacidade extraordinária de adaptação e essa falta de continuidade que constituem sem dúvida seu marco distintivo, se é que existe mesmo algo como um caráter totalitário ou uma mentalidade totalitária”.
Hannah Arendt tem em vista aqui somente o lado político-estatal do totalitarismo, isto é, as ditaduras do período entre guerras. Mas só na aparência a massa anônima, mobilizada política e militarmente pelas ditaduras ou pelos regimes de transição democráticos, opõe-se ao culto comercial do indivíduo igualmente anônimo, do “consumidor” das democracias do pós-guerra. Na verdade, a primeira, a massa mobilizada nas paradas militares, pode ser entendida como um embrião do segundo, o indivíduo como consumidor isolado. O indivíduo democrático “livre” do pós-guerra nada mais é senão o “exemplar” originalmente moldado e regulado pela máquina político-militar, exemplar este que somente foi libertado para se ajustar à marcha comercial da máquina capitalista no mundo.
Atendo-se às ditaduras totalitárias de Estado (algo compreensível em 1951), Hannah Arendt ignora completamente quanto suas formulações sobre a essência do totalitarismo aplicam-se com exatidão ao caráter de um mercado cada vez mais totalitário e, portanto, à própria democracia ocidental. Que outro enunciado, senão a “espantosa rapidez do esquecimento”, caracterizaria melhor as conjunturas capitalistas, que não se caracterizam mais como evolução humana, sendo antes um processo de conteúdos indiferentes, cujo combustível é o dinheiro? E “facilidade da substituição”, que descrição seria mais precisa da personalidade rebaixada a objeto do ser humano universalmente intercambiável?
E o que poderia ser mais “ávido de mobilidade” do que o próprio capitalismo, o qual, na condição de sistema econômico do tipo “bola de neve”, de fato “só consegue subsistir enquanto se mantiver em movimento e puser em movimento tudo a seu redor”? Onde a “extraordinária capacidade de adaptação” seria uma virtude mais excelsa senão nas economias democráticas de mercado, da forma como ela voltou a ser apregoada hoje pelos paladinos da “adaptação permanente” a uma cega “mudança estrutural”? E o que, finalmente, poderia representar uma “falta de continuidade” mais radical do que o mercado universal sem história, que realiza seu movimento sempre idêntico numa espécie de nirvana atemporal?
Essa correspondência torna-se ainda mais nítida quando Hannah Arendt tenta esmiuçar a “lei de movimento” do totalitarismo: “Por trás da pretensão de dominar o mundo, típica de todos os movimentos totalitários, existe sempre a pretensão de criar um ser humano que corporifique ativamente as leis que, de outro modo, ele só suportaria passivamente, cheio de resistência e jamais em sua plenitude. A paz sepulcral que, segundo a teoria clássica, a tirania instala no país (…) permanece tão vedada ao país de regime totalitário quanto a paz em geral. É verdade que seus habitantes são despojados de toda ação que nasce da livre espontaneidade; mas eles são mantidos em permanente movimento como exponentes do gigantesco processo sobre-humano da natureza ou da história, que passa zunindo por eles (…). O terror, nesse sentido, é como a “lei” que não pode mais ser transgredida”.
O que nessa passagem é denunciado, porém, como essência do totalitarismo nada mais é do que a própria essência do liberalismo. Isso porque não foi ninguém mais senão a nata da economia política burguesa e da filosofia iluminista que, desde o princípio, fez sua a pretensão de executar nos homens “as leis da natureza e da história”. E é o capitalismo totalizado que, no espaço social em que impera, despoja seus habitantes “de toda ação que nasce da livre espontaneidade”, uma vez que toda atividade nesse espaço é axiomaticamente modelada pelo imperativo econômico. Bem mais implacável do que as ditaduras dos Estados totalitários, os indivíduos economizados pelo livre mercado mundial são “mantidos em permanente movimento como exponentes do gigantesco processo sobre-humano” de uma cega dinâmica de crescimento marcada por falhas estruturais, dinâmica essa que “passa zunindo por eles” e é proclamada pelos ideólogos neoliberais como “processo objetivo da natureza e da história”.
Na verdade, estamos às voltas com uma patente continuidade da história capitalista, na qual as ditaduras dos Estados totalitários e a “mobilização total” das guerras mundiais não são um modelo fundamentalmente oposto, antes representam um determinado continuum histórico e uma forma de imposição da própria “economia de mercado” e da “democracia”: a sociedade como um todo foi posta em movimento acelerado em todos seus níveis e esferas, a fim de poder suportar a acumulação acelerada e concentrada do capital. No final do século 20, a transformação do totalitarismo capitalista (que de Estado total passou a mercado total) conduziu a um inusitado “terror da economia” -a uma “lei” que, como nos dizem ironicamente, “não pode mais ser transgredida”. E o controle da realidade imposto pela mídia capitalista só pode falar ininterruptamente de liberdade porque há muito deixamos “1984” para trás.