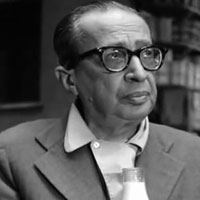A expropriação do tempo
Publicado em 03/01/99 no caderno Mais! da Folha de São Paulo.
Os últimos anos viram nascer um volume espantoso de literatura sobre a categoria do tempo. Programas de rádio e peças teatrais, seminários acadêmicos e até mesmo talk shows se valem do tema; o tempo tornou-se, de certa forma, uma estrela da mídia.
Não é somente a teoria científica do tempo de um Stephen Hawking, físico “pop star”, que desperta interesse, mas sobretudo o componente cultural e social do conceito de tempo, cuja dinâmica explicita um profundo mal-estar da modernidade ao lidar com noções temporais. Esse problema, embora não seja novo, alcançou no final do século XX uma nova dimensão. Tempo, como se sabe, é dinheiro; eis por que o tempo sempre cumpriu um papel decisivo no capitalismo. Mas hoje a exploração dos recursos temporais parece ter chegado a seu limite histórico, sendo impossível evitar que o problema do tempo, agora iminente, se insinue na consciência social.
A reflexão filosófica decisiva sobre o conceito moderno de tempo, válida até hoje, acha-se em Immanuel Kant (1724-1804). Kant descobriu que o espaço e o tempo não são conceitos que se referem ao conteúdo do pensamento humano, mas às formas a priori de nossa capacidade de perceber e pensar. Podemos conhecer o mundo somente nas formas de tempo e espaço que estão inscritas em nossa razão, anteriores a todo conhecimento. Mas Kant define essas formas de tempo e espaço de modo absolutamente abstrato e a-histórico, válido igualmente para todas épocas, culturas e formas sociais. Tempo, para ele, é “a temporalidade pura e simples”, sem nenhuma dimensão específica, sendo o espaço e o tempo “formas puras da intuição”. Na visão kantiana, portanto, o tempo é um fluxo temporal abstrato, sem conteúdo e sempre uniforme, cujas unidades são todas idênticas: “Tempos diversos são apenas partes do mesmo tempo”.
A pesquisa histórica e cultural descobriu há muito que essa definição a-histórica da experiência e da percepção do tempo não é sustentável. Reconheceu-se, antes de mais nada, que as culturas agrárias pré-modernas não pensavam num tempo linear uniforme, mas num tempo cíclico em ritmos temporais de constante repetição, regulados segundo os ciclos cósmicos e das estações.
Se o tempo é uma forma inscrita a priori na capacidade cognitiva humana, não é menos verdade que a essa forma subjaz uma mudança histórica e cultural. As pesquisas mais recentes sobre as diferentes culturas do tempo confirmaram essa descoberta. Em todas essas culturas, não afetadas pela modernidade capitalista, o tempo não apenas “transcorre” de modo distinto; além disso, existem formas inteiramente diversas de tempo que transcorrem paralelamente e cuja aplicação varia de acordo com o objeto ou a esfera de vida a que se reporta a percepção temporal: “Cada coisa tem seu próprio tempo” .
A revolução capitalista consistiu essencialmente em desvincular a chamada economia de todo contexto cultural, de toda necessidade humana. Ao transformar a abstração social do dinheiro, antes um meio marginal , num fim em si mesmo de caráter tautológico, a economia autônoma inverteu também a relação entre o abstrato e o concreto: a abstração deixa de ser a impressão de um mundo concreto sensível, e todos os nexos concretos e os objetos sensíveis contam apenas como expressão de uma abstração social que domina a sociedade sob a figura reificada do dinheiro.
A sujeição das atividades culturais, até então concretas, à abstração do dinheiro foi o que possibilitou converter a produção em “trabalho” geral e abstrato, cuja medida é o tempo. Porém esse tempo não é mais o tempo concreto, qualitativamente diverso conforme suas relações, mas sim o fluxo temporal abstrato, linear e uniforme contrapartida exata do fim em si mesmo abstrato da acumulação capitalista, como Kant já pressupusera cegamente.
Essa ditadura do tempo abstrato, levada a efeito pelo mecanismo da concorrência anônima, criou para si o correspondente espaço abstrato, o espaço funcional do capital, destacado do restante da vida. Surgiu assim um tempo-espaço capitalista, sem alma nem feição cultural, que começou a corroer o corpo da sociedade.
O “trabalho”, forma de atividade abstrata e encerrada nesse tempo-espaço específico, teve de ser depurado de todos os elementos disfuncionais da vida, a fim de não perturbar o fluxo temporal linear: trabalho e moradia, trabalho e vida pessoal, trabalho e cultura etc. dissociaram-se sistematicamente. Só assim foi possível nascer a separação moderna entre horário de trabalho e tempo livre.
Embora não nos demos mais conta disso, o que se diz implicitamente é que o tempo de trabalho é tempo sem liberdade, um tempo impingido ao indivíduo (na origem até pela violência) em proveito de um fim tautológico que lhe é estranho, determinado pela ditadura das unidades temporais abstratas e uniformes da produção capitalista.
Apesar de consumir a maior parte do tempo diário, a maioria esmagadora dos que laboram não sente o tempo de trabalho como tempo de vida próprio, mas como tempo morto e vazio, arrebatado à vida como num pesadelo. Do ponto de vista do espaço e do tempo capitalista, inversamente, o tempo livre dos trabalhadores é tempo vazio e de nenhuma serventia.
Como esse fim tautológico, fugindo a todo controle, tem como princípio eliminar qualquer limite que o contenha, existe no capitalismo uma forte tendência objetiva para minimizar o tempo livre ou ao menos racioná-lo austeramente. Daí o paradoxo de as pessoas no mundo moderno terem de sacrificar muito mais tempo livre à produção do que nas sociedades agrárias pré-modernas, a despeito do gigantesco desenvolvimento das forças produtivas.
Esse absurdo revela-se tanto no aspecto quantitativo como no qualitativo. Na Antiguidade e na Idade Média, apesar do nível técnico inferior, o tempo de produção diária, semanal ou anual era bem menor do que no capitalismo. Como a religião tinha primazia sobre a economia, o tempo das festas e dos rituais religiosos era mais importante do que o tempo da produção; havia inúmeros dias feriados, que foram em boa parte abolidos na esteira da modernização. Além disso, as sociedades agrárias da velha Europa caracterizavam-se por enormes disparidades sazonais no volume de atividades. As épocas mais quentes do ano concentravam as tarefas, legando para a população camponesa um inverno relativamente calmo, utilizado muitas vezes para a celebração das festividades privadas de que nos dão notícia algumas canções populares.
A população artesã das cidades era menos estruturada pelas diferenças sazonais, mas em compensação seus dias de trabalho nas oficinas eram reduzidos. Documentos britanicos do século XVIII relatam que os artesãos livres trabalhavam somente três ou quatros dias por semana, segundo a vontade e a necessidade. Era costume prolongar o final de semana segunda-feira adentro. A história da disciplina capitalista é também a história da luta encarniçada contra essa “segunda-feira livre”, que só aos poucos foi eliminada com punições dracônicas, sendo ainda encontrada em algumas regiões em pleno século XX (há cabeleireiros que a adotam até hoje).
Ainda mais evidente é a diferença qualitativa entre tempo de produção capitalista e pré-moderno. O nível pouco elevado das forças produtivas do setor agrário redundou em muitos constrangimentos (por exemplo, tradições restritas e laços de consanguinidade) e algumas vezes em problemas de abastecimento (por exemplo, colheitas arruinadas). Mas o objetivo da produção, mesmo com meios modestos, não era um fim tautológico abstrato como hoje, mas prazer e ócio. Esse conceito antigo e medieval do ócio não deve ser confundido com o conceito moderno de tempo livre. Isso porque o ócio não era uma parcela da vida separada do processo de atividade remunerada, antes estava presente, por assim dizer, nos poros e nos nichos da própria atividade produtiva. Enquanto a abstração do tempo-espaço capitalista ainda não cindira o tempo da vida humana, o ritmo de esforço e descanso, de produção e ócio transcorria no interior de um processo vital amplo e abrangente.
Num sistema de identidade entre producão, vida pessoal e cultura, aquilo que hoje talvez nos pareça formalmente uma jornada de trabalho de 12 horas não significava 12 horas de atividade tensa, sob o controle de um poder econômico objetivado. Esse tempo da produção era atravessado de momentos de ócio; havia, por exemplo, longas pausas, sobretudo pausas para o almoço, que se estendiam por horas de refeição comunitária, um costume que se preservou por mais tempo nos países mediterrâneos do que no norte, até ser obrigado a ceder espaço à cadência do fluxo de trabalho abstrato da industrialização capitalista.
A atividade produtiva pré-capitalista, além de impregnada pelo ócio, caracterizava-se também por ser menos concentrada, ou seja, mais vagarosa e menos intensiva do que hoje. Numa atividade autodeterminada, sem a pressão da concorrência, esse ritmo moderado do ato produtivo revela claramente a maneira “natural” do comportamento humano.
Hoje não conhecemos mais esse modo de agir; sob a injunção surda da concorrência de mercados anônimos, a jornada de trabalho moderna, degradada funcionalmente, tornou-se cada vez mais condensada: primeiro pela cadência mecânica e, depois, pelo modo requintado de exaurir a energia vital com auxílio da chamada racionalização. Desde que o engenheiro norte-americano Frederick Taylor (1856-1915) desenvolveu no começo do século XX a “ciência do trabalho”, empregada pela primeira vez em larga escala nas fábricas de automóveis de Henry Ford (1863-1947), os métodos dessa “racionalização do tempo” não pararam de se refinar e se inculcaram profundamente no corpo social.
O caráter absurdo dessa concentração monstruosa do tempo-espaço capitalista não é mais consciente para nós. Taylor era um neurótico que, quando jovem, contava compulsivamente seus passos. Na Alemanha, a concentração do tempo de trabalho foi legitimada pela união científica com os chamados “energéticos”, cujo líder, Wilhelm Ostwald (1853-1932), de certa maneira fundamentou filosoficamente a práxis de Taylor e Ford com um “imperativo energético”.
Essa máxima diz sem rodeios: “Não desperdice energia, utilize-a!” com total abstração e independência das necessidades concretas. Como o universo talvez sucumba em dez milhões de anos à completa entropia por falta de “energia livre”, a rigor seria um desperdício passear “sem propósito” ou permanecer muito tempo no banheiro! O caráter neurótico desse pensamento, que representa a neurose objetivada da racionalidade empresarial e sua lógica da “economia de tempo”, parece chegar às raias da paranóia no final do século XX.
Em nome da tautologia capitalista, essa lógica insensata tem como resultado “condensar” cada vez mais espaço nas unidades idênticas do fluxo temporal abstrato. Trata-se, portanto, de um sistema de aceleração permanente e sem sentido. O bordão universal sobre “nosso mundo em rápida transformação” tem por base uma paranóla social objetivada, que o filósofo Paul Virilio, com pertinência, definiu como “inércia a toda velocidade” e descreveu em seus paradoxos: “Arrebatados pela força monstruosa da velocidade, não vamos a lugar algum, contentamo-nos com a tarefa de viver em benefício do vazio da velocidade”.
Mas Virilio comete o mesmo erro de outros teóricos da absurda aceleração desde o início da industrialização: num imediatismo equivocado, ele vincula a concentração do tempo à tecnologia, mas não leva em consideração a forma histórica do tempo-espaço capitalista. Ora, não é a tecnologia em si que dita a necessidade de uma aceleração vazia; pode-se muito bem desligar as máquinas ou fazê-las funcionar mais lentamente. Antes, é o vazio do tempo-espaço capitalista, destacado da vida e sem laços culturais, que impõe à tecnologia uma determinada estrutura e a transforma num mecanismo autônomo da sociedade, impossível de ser desconectado.
A desproporção grotesca entre um aumento permanente das forças produtivas e um aumento igualmente constante da falta de tempo produz nos próprios espíritos acríticos um certo mal-estar. Mas, como a forma do tempo capitalista parece intocável no espaço funcional do trabalho abstrato, a esperança das pessoas no século XX concentrou-se cada vez mais no tempo livre, que, segundo teóricos como Jean Fourastié ou Daniel Bell, teria uma expansão contínua.
Essa esperança, porém, foi duplamente frustrada. Com a transformação do tempo livre num consumo de mercadorias de crescimento constante, o vazio da aceleração foi capaz de tomar posse do que restava da vida; as formas raquíticas de descanso foram substituídas por um hedonismo enfurecido de idiotas do consumo, um hedonismo que comprime o tempo livre da mesma forma que, antes, o horário de trabalho.
Por outro lado, essa mesma lógica paranóica da “economia (empresarial) de tempo” cinde o ganho de produtividade da terceira revolução industrial numa nova relação descompassada. O resultado não é, como se esperava, mais tempo livre para todos, mas uma aceleração ainda maior dentro do tempo-espaço capitalista, para uns, e um desemprego estrutural de massas, para outros.
Desemprego no capitalismo, porém, não é tempo livre, mas tempo de escassez. Os excluídos da aceleração vazia não ganham ócio, antes são definidos como não-humanos em potencial. Assim, depois da utopia do trabalho, fracassou também a utopia do tempo livre. Não é por meio de uma expansão do tempo livre voltado para o consumo de mercadorias que o terror da economia sem freios pode ser contido, mas somente por meio da absorção do trabalho e do tempo livre cindidos numa cultura abrangente, sem a sanha da concorrência. O caminho para o ócio passa pela libertação da forma temporal capitalista.