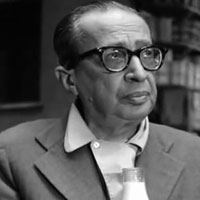Uma revolta do silêncio
Publicado em 14/01/96 no caderno Mais! da Folha de São Paulo.
Fomos testemunhas da última grande luta dos sindicatos?
O velho coração da luta de classes voltou a bater com força. Paris parecia reviver, em dezembro, um Maio de 68. O mito da grande greve foi ressuscitado. Em nenhum outro país senão na França a memória das lutas históricas das massas poderia deflagrar um movimento tão explosivo. Por algum tempo, toda uma nação industrial foi paralisada, “todas as engrenagens pararam”, e no meio da rotina de um cotidiano obtuso e no deserto social da concorrência globalizada irromperam sentimentos quase esquecidos e modelos de ação só verificados por ocasião de catástrofes naturais: a solidariedade, o espírito de comunhão, o vínculo organizativo criado de improviso, a espontaneidade e o entusiasmo da luta contra uma força muda e fatídica. De fato, o governo de Juppé foi sentido como uma catástrofe natural, cuja capacidade de comunicação social não é maior que a de um terremoto _uma qualidade, sem dúvida, compartilhada pela maioria dos governos atuais no mundo, que cada vez mais interrompem o discurso social em nome de uma equivocada “lei natural do mercado”.
É fato notório e condizente com as tradições da grande nação revolucionária que, na França, os espíritos de revolta se insurjam contra o Estado com mais facilidade do que em outros países. Se na Alemanha, como diz a piada, os próprios revolucionários ultra-radicais compram seus bilhetes antes de tomar de assalto uma estação ferroviária, na França até mesmo estudantes ginasiais e pais de família extremosos saem às ruas e entrincheiram-se em barricadas.
E, no entanto, não há o menor fundamento para que alguns marxistas encanecidos, devotados ao silêncio e surdos ao mundo nos últimos anos, farejem no ar o indício da velha luta de classes com base no exemplo francês e acreditem numa reedição do Maio parisiense de 1968. Apesar de todas as peculiaridades da história e consciência nacionais, os franceses da nova constelação global não podem desvencilhar-se dos limites impostos pela economia e pela política.
Uma revolta desprovida do horizonte histórico das mudanças sociais e incapaz de fixar um objetivo ofensivo não está somente condenada ao fracasso, mas também a amargar um profundo anonimato no curso da história. Este é o caso do dezembro de Paris, como se pode demonstrar facilmente: a relação entre conservadores e progressistas, direita e esquerda, governo e oposição foi posta às avessas. O conceito de reforma social deixou de ser progressista e foi adotado pelos conservadores; deixou de significar incremento social e passou a indicar o regresso ao capitalismo brutalizado de Manchester no século 19.
Após transformar o conceito de reforma social em seu contrário e infundi-lo com conteúdos anti-sociais, o governo já pode criticar os sindicatos e as associações sociais com um cinismo inaudito, tachando-os de “incapazes para a reforma”. Hoje isso acontece não apenas na França, mas em todo o mundo. As esquerdas vestem a máscara de conservadoras, os sindicatos fazem greve para preservar velhas regalias e os sentimentos ressurgentes de solidariedade e entusiasmo prendem-se curiosamente à esperança “de que tudo deve continuar como está”.
Que tipo de revolta é essa, que só faz por defender o status quo de uma ordem social decrépita e sem horizonte social? No grande movimento grevista de dezembro, é claro, a maioria dos franceses reconheceu sua própria angústia diante da perda do futuro. Embora não tenha sido de fato uma greve geral, mas uma luta em favor dos privilégios do funcionalismo público, a simpatia da população permaneceu ao lado dos grevistas. Sob esse aspecto, o tiro do governo saiu pela culatra. O efeito de uma “greve geral indireta” _causada sobretudo pela greve de todos os meios públicos de transporte e apesar do caos, do colapso das atividades normais e dos incalculáveis prejuízos_ não despertou a ira da população contra os grevistas, mas sim a solidariedade universal.
Os servidores públicos agiram em nome de todos os assalariados franceses. A solidariedade, apesar de tudo, não foi irrestrita, e sob um aspecto decisivo chegou mesmo a desmentir a si própria. Se “tudo deve continuar como está”, os milhões de desempregados, desabrigados e “novos-pobres” que existem também na França permanecerão, em última instância, excluídos da solidariedade. É claro que não se trata aqui das exigências sindicais imediatas, mas de saber como um movimento grevista de tais proporções pode pleitear uma emancipação social que ultrapasse o conflito direto e inclua também, a longo prazo, o homem expelido pelo sistema. As greves de Paris, infelizmente, não tinham em vista tal objetivo. Diante dos “excluídos”, os sindicatos mostram-se tão mudos quanto o governo de Juppé.
Essa restrição implícita da liberdade, discutida apenas a contragosto, é ao mesmo tempo o ponto fraco da legitimação dos sindicatos. Surge assim uma dialética peculiar. No sentido estrito, os sindicatos jamais representaram outra coisa senão os interesses de setores isolados e de grupos profissionais. Por intermédio do socialismo, no entanto, tais interesses imanentes ganharam uma dimensão de transcendência que lhes conferiu um grau de universalidade e necessidade histórica.
Somente com base nessa transcendência, que banhava todo conflito isolado na luz de uma instância superior dotada de objetivos amplos, os sindicatos foram capazes de abolir momentaneamente a concorrência entre os assalariados, compensar em parte a diferença de poder entre sua organização e o governo (ou os empresários) e obter resultados significativos no interior do sistema de mercado.
As exigências transcendentes e supostamente “utópicas” sempre foram uma pedra no sapato das organizações sindicais. Talvez muitos de seus integrantes tenham acreditado que, após o colapso dos ideais socialistas e por meio do assentimento definitivo à economia de mercado, seria mais fácil agir pragmaticamente e “sem antolhos ideológicos” para recuperar o terreno perdido. Ocorreu, porém, justamente o contrário.
Na França, foi o próprio presidente socialista Mitterrand quem implementou com mãos de ferro uma brutal política de austeridade de cunho monetarista; Chirac e Juppé apenas seguiram seus passos. Com a perda da indesejada transcendência socialista, os sindicatos foram despojados do restante de suas forças. Seu poder se desintegrou e sua estratégia passou a ser defensiva. Seus filiados perderam a fé na organização e começaram a evitá-la.
Paradoxalmente, hoje é o governo que age em nome de uma exigência universal e com o pathos da necessidade histórica, cujo verdadeiro caráter é o apelo negativo que subjuga o homem à legalidade cega de um sistema corrompido. Os sindicatos, por sua vez, abandonaram tanto a crítica fundamental à economia de mercado quanto sua própria exigência de universalidade: tornaram-se, por assim dizer, historicamente mudos. Também sob esse aspecto as frentes de batalha sofreram uma alteração. A capacidade de resistência da história parece ter passado às mãos dos governantes. Mesmo se os sindicatos franceses saiam vitoriosos do presente conflito, estrategicamente sua linha de batalha conduz à derrota.
O dezembro parisiense, longe de ser um novo Maio de 68, engrossa a longa fileira dos combates que, desde os anos 80, têm como objetivo cobrir a retaguarda dos sindicatos. Muitos desses conflitos possuem uma feição trágica, como por exemplo a agonia social dos tradicionais mineiros ingleses em face do governo de Margaret Thatcher. As derrotas, contudo, são inevitáveis, pois trata-se da revolta desesperada de uma categoria já em estertor. Com o que foi talvez a última das grandes greves em massa da história dos sindicatos, os franceses (com todo o direito) põem um ponto final naquilo que começaram há mais de 200 anos.
Os adversários, apesar de tudo, não vislumbram um futuro promissor para sua vitória atual. A mentira de um conceito falso e historicamente depreciado de “reforma” vingar-se-á de seus criadores. Os governos não lutam mais por seus próprios projetos, pois o controle do futuro foi renunciado em favor do mercado, entendido como uma “segunda natureza”; os governos não são os sujeitos do desenvolvimento, mas somente os últimos administradores do fatalismo social da modernidade. As pretensas reformas dos Juppés espalhados pelo mundo são tão pouco “políticas” quanto a previsão do tempo ou a descrição biológica do comportamento de insetos.
A situação social clama (não apenas na França) por uma alternativa que supere a dicotomia entre economia de mercado e socialismo estatal. Se os sindicatos não quiserem representar, até seu amargo desfecho, o papel de perdedores históricos, precisarão de um novo ideal transcendente, de uma nova competência programática e de um novo horizonte de mudanças sociais, a fim de retomarem a iniciativa histórica. Para isso terão de modificar a si próprios, acertar o passo com outros movimentos de fundo social e desenvolver novos conceitos de ação comunitária, que se resguardem tanto do trabalho assalariado quanto da dependência de recursos estatais.
No passado socialista, sempre foram os intelectuais que promoveram os ideais inovadores de sociedade. Também sob esse aspecto o mundo inverteu-se em seu contrário: se o Maio parisiense foi em boa parte uma revolta de intelectuais, seu dezembro revelou-se intelectualmente órfão.
Os intelectuais do Maio de 68 _pessoas como André Glucksmann ou Bernard-Henri Lévy_ há muito esqueceram a questão social. Tornaram-se bobos da corte que não fazem outra coisa senão celebrar em canto o “Eros do Ocidente”. A greve de dezembro os deixou atônitos, a exemplo de Juppé. Agora ficou definitivamente comprovado que a intelectualidade renega sua vocação quando não possui um espírito de oposição histórica.
Só depois de muito hesitar, outros intelectuais franceses tomaram a palavra e dividiram-se em dois grupos, encabeçados por dois nomes famosos: Alain Touraine e Pierre Bourdieu. O grupo de Touraine dá seu apoio à “reforma” de Juppé, ainda que se queixe dos procedimentos brutais e “insensíveis” do governo. Touraine mostra-se preocupado sobretudo com a possibilidade de a França perder seu poder de fogo ao entrar na “concorrência do mercado liberal”.
Esse pessimismo é justo se tivermos em vista somente o mercado e não quisermos desenvolver nenhuma alternativa às soluções dominantes. Com isso, porém, Touraine vê-se obrigado a sacrificar a questão social no altar do mercado, e suas demais afirmações sobre o problema deixam de merecer o crédito de conceitos intelectuais. O grande movimento social de dezembro surge assim apenas como fator de perturbação diante da fria “necessidade”: que silêncio enfático em relação às massas, que um dia foram o Deus da intelectualidade!
O grupo de Bourdieu, ao contrário, tenta entrar em acordo com os grevistas. Mas isso não espontaneamente e por simpatia intrínseca, mas sim de modo forçado, a contragosto. Depois de enterradas as esperanças socialistas, só parece restar a esse tipo de esquerda o ideal de nação como o último baluarte contra o fluxo destruidor do mercado mundial. Na França, isso implica um paradoxo todo especial, pois nesse país o universalismo esclarecido da burguesia revolucionária é ao mesmo tempo uma tradição do nacionalismo limitado.
O dezembro parisiense tornou repentinamente claro que os produtores de idéias há anos fazem greve, sem que no entanto ninguém perceba sua paralização. A mera repetição intelectual da lógica, como agora é o caso, não constitui uma idéia e nem sequer um pensamento, mas apenas um reflexo. Desde 1989, a maioria dos intelectuais não produz reflexões críticas, mas reflexos desprovidos de idéias: suas afirmações revelam que desaprenderam a história. A França não é a única a possuir uma sociedade de mudos que não se entende mais criticamente e reage apenas por instinto aos sinais de luz abstratos e espectrais emitidos pelo mercado atemporal. Por mais que os acontecimentos voltem a se repetir, o dezembro parisiense de 1995 foi a última palavra do antigo movimento social _foi uma revolta do silêncio.