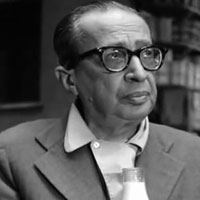Entrevista
Publicada em Teoria e Debate
José Corrêa Leite
O senhor sofreu uma influência importante do existencialismo
sartriano na sua formação?
Com certeza. A leitura que pude fazer de Sartre
ajudou muito na minha produção geográfica.
Quais figuras o senhor destacaria como importantes para a
produção de sua obra?
Primeiro os clássicos, que aprendi no ginásio:
Aristóteles, Platão, Leibnitz, Whitehead. É evidente que Marx teve
um papel destacado. E também Henri Lefèbvre, embora eu o considere
mais fácil do que Sartre e por conseguinte menos instigante, menos
provocativo.
Quando o senhor fez o doutorado na França, teve contato com essas
pessoas?
Não, o contato que tive com o grupo de Sartre foi
depois, a partir de 1964. As idéias que exponho atualmente
apareceram em embrião há vinte anos em um artigo na revista Les
temps modernes.
E dos intelectuais que pensam a condição do Brasil, o senhor
destacaria alguém?
Não poderia deixar de mencionar Josué de Castro,
Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Caio Prado
Jr.
O senhor registraria uma ruptura entre a reflexão empreendida no
diálogo com essas figuras, que marca toda sua contribuição anterior
para a renovação da geografia e sua reflexão mais atual?
Confrontando Por uma geografia nova e A natureza do espaço me passa
a idéia de um movimento de renovação intelectual muito grande e
consistente.
É difícil falarmos de nós mesmos, mas pouco a pouco
já vinha se dando, na minha obra, uma separação das prisões do
empírico e a busca de uma construção mais filosófica. Quando escrevi
Por uma geografia nova, vivia fora do país há muito tempo e a partir
de um certo momento não conhecia mais o Brasil, porque o país mudou
muito depois de 64, tanto em termos de materialidade como de
relações sociais. Então, a filosofia era o único refúgio para mim, a
única forma de continuar vivendo. O Brasil se distanciava e havia a
incapacidade de apreender intelectualmente os outros países onde
trabalhei e sobre os quais escrevi muito pouco. Escrevi um pouco
mais sobre a Tanzânia, sobre a África Ocidental, porque era uma
história capitalista menos complexa e com as similaridades dadas
pela condição de Terceiro Mundo, questão que era central na minha
base teórica. Isso me levou a Por uma geografia nova, que era
expressão de uma linha de duplo combate: em relação aos meus colegas
do Norte e em relação ao Brasil, onde eu estava pisando de
volta.
Aí eu passei quinze anos trabalhando na preparação
desse outro livro, A natureza do espaço, no qual queria mostrar que
a geografia também é uma filosofia. Eu tinha uma inconformidade com
a minha disciplina e com o que havia escrito antes sobre ela.
Empreendi então a fundamentação da idéia de que a geografia é uma
filosofia das técnicas. E como tal, ela somente podia se tornar
teórica com a globalização, porque antes não havia técnicas
planetárias e a universalidade dos filósofos não havia se tornado
empírica. Acho que a minha pequena contribuição à filosofia é a
idéia de universalidade empírica, que só podia brotar da cabeça de
um geógrafo, vendo como os lugares se tornaram parecidos, na sua
enorme diferenciação, com a globalização. Mas o que eles têm de
parecido não são só os vidros fumés das grandes cidades. Essa
psicosfera tem uma base técnica, a produção, as condições de vida
das pessoas. Eu tive essa idéia da geografia como filosofia das
técnicas há 35 anos. Mas esta elaboração só podia se tornar concreta
e sistematizada num livro com a globalização. Aí é visível a
inseparabilidade do individual e do universal, através do lugar e do
mundo.
Em alguns textos meus de mais de vinte anos já
aparece a palavra globalização. Mas acho que como fruto dessa
solidão enorme que foi minha trajetória, a partir da ausência da
condição cidadã, porque não estava no meu país, estava longe do
embate político e incapaz de participar dele. E absolutamente
convencido de que era por meio das idéias que poderia ter um papel.
Isso me facilitou a decisão de não participar da vida partidária
quando voltei. Eu tinha a certeza de que um dia os intelectuais iam
ter voz no Brasil. E hoje estou orgulhoso e feliz de poder
participar do debate político, sem nenhuma vinculação a partidos,
ainda que não esconda as minhas simpatias, que vão para o seu
partido.
Esse tratamento da geografia, que permite retirar as
contribuições que ela pode oferecer para a ação política, significa
abordá-la de forma interdisciplinar?
A interdisciplinariedade não se produz a partir das
disciplinas. Ela se produz a partir das metadisciplinas. Eu converso
com os outros colegas a partir da minha filosofia e da deles. Mas
não da minha disciplina. Se eles não tiverem a filosofia, se eles
não forem capazes de produzi-la, não há possibilidade de
diálogo.
Outro problema é que a filosofia não está sendo
capaz de ajudar na produção das filosofias particulares. Os
filósofos me ajudaram, mas nenhum deles foi capaz de me entregar um
esquema. E não podiam. Imagine um filósofo se ocupar de coisa tão
boba como a geografia! Mas cada disciplina, olhando a realidade a
partir de um prisma, tem, ela própria, sua rede e seus pontos
nodais, que formam a rede. E a teoria é uma rede. A teoria não é um
conceito solto, é um sistema de conceitos. Então, os filósofos
acabam sendo os inspiradores e depois, lá adiante, os fiscais.
Mas cada disciplina tem que elaborar a sua
filosofia. No caso da geografia, ela alcançou agora a sua maturidade
histórica. Não podia ser antes. A universalidade empírica da
globalização, graças a essa onipresença das técnicas da informação,
das técnicas da produção, da circulação, do comércio etc. acaba
fazendo com que cada lugar se reconheça no mundo. Seria uma forma
particular de exercício do mundo. Isso garante essa integração entre
lugar e mundo, que é a base de uma teoria geral do mundo, vista a
partir de lugares, do universal e do particular, que é a ambição
filosófica suprema. E que para nós não era possível antes, na
geografia.
Como o senhor vê o processo de globalização?
A globalização é, de certa forma, o ápice do
processo de internacionalização do mundo capitalista. Para entender
esse processo, como qualquer momento da história, há dois elementos
fundamentais a levar em conta: o estado das técnicas e o estado da
política.
Há uma tendência em separar uma coisa da outra. Daí
muitas interpretações da história a partir das técnicas. E, por
outro lado, interpretações da história a partir da política. Na
realidade, nunca houve na história humana separação entre as duas
coisas. As técnicas são oferecidas como um sistema, utilizado
através do trabalho e das formas de escolha dos momentos e dos
lugares de uso das técnicas, das combinações entre elas. É isso que
fez a história.
Chegamos ao fim do século XX e o homem, por
intermédio dos avanços da ciência, produz um sistema de técnicas
presidido pelas técnicas da informação. Elas passam a exercer um
papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando a presença
planetária desse novo sistema técnico.
Só que a globalização não é apenas a existência
desse novo sistema de técnicas. Ela é também o resultado dos
processos políticos que conhecemos. Com freqüência ouvimos a
pergunta: “mas não tem alguma coisa de bom na globalização?” ou
“será que é tudo ruim?”. A discussão não é essa. A discussão é: há
um conjunto, um sistema de técnicas baseado na ciência, e há uma
forma de utilizar esse sistema presidida por essa mula-sem-cabeça
chamada mercado global. Um mercado global utilizando esse sistema de
técnicas avançadas, repito, presididas pelas técnicas da informação,
resulta nessa globalização perversa. Isso poderia ser diferente se
seu uso político fosse outro. E quando digo uso político, digo uso
econômico e cultural, porque neste fim de século tudo se tornou
político; a economia é feita a partir da política, a cultura é base
para a política e resulta da política. Esse é o debate central, o
único que nos permite ter a esperança de utilizar o sistema técnico
contemporâneo a partir de outro paradigma.
O senhor tem falado em globalitarismo. Poderia nos explicar esse
conceito?
Eu chamo a globalização de globalitarismo, porque
estamos vivendo uma nova fase de totalitarismo. O sistema político
utiliza os sistemas técnicos contemporâneos para produzir a atual
globalização, conduzindo-nos para formas de relações econômicas
implacáveis, que não aceitam discussão, que exigem obediência
imediata, sem a qual os atores são expulsos da cena ou permanecem
dependentes, como se fossem escravos de novo. Escravos de uma lógica
sem a qual o sistema econômico não funciona. Que outra vez, por isso
mesmo, acaba sendo um sistema político.
Esse globalitarismo também se manifesta nas
próprias idéias que estão atrás de tudo. E, o que é mais grave,
atrás da própria produção e difusão das idéias, do ensino e da
pesquisa. Todos obedecem, de alguma maneira, aos parâmetros
estabelecidos. Se estes não são respeitados, os transgressores são
marginalizados, considerados residuais, desnecessários ou
não-relevantes. É o chamado pensamento único. Algumas vozes críticas
podem se manifestar, uma ou duas pessoas têm permissão para falar o
que quiserem, para legitimar o discurso da democracia. Só que a
estrutura do processo de produção das idéias se opõe e hostiliza
essa produção de idéias autônoma e, por conseguinte, de
alternativas.
É uma forma de totalitarismo muito forte,
insidiosa, porque se baseia em idéias que aparecem como centrais à
própria idéia da democracia – liberdade de opinião, de imprensa,
tolerância – utilizadas exatamente para suprimir a possibilidade de
conhecimento do que é o mundo, do que são os países, os lugares. Eu
chamo isso de tirania da informação, que, associada à tirania do
dinheiro, resulta no globalitarismo.
Essa tirania da informação se opõe, portanto, à produção de um
conhecimento que poderia gerar uma alternativa distinta do mercado à
organização desse meio técnico-político?
Creio que sim. Na medida em que o mundo se
globaliza, eu apenas posso entendê-lo como um todo. E cada coisa a
partir do mundo. Se me retiram a possibilidade de compreender o
mundo como ele é, se me bombardeiam todos os dias com informações
que não são corretas, estão me tirando a possibilidade de entender
não só o mundo como a mim mesmo.
Isso é terrível, porque mata a possibilidade de
desenvolvimento de alternativas. Esse mundo globalizado produz uma
racionalidade determinante, mas que vai, pouco a pouco, deixando de
ser dominante. É uma racionalidade que comanda os grandes negócios,
que são cada vez menos numerosos mas cada vez mais abrangentes.
Esses grandes negócios são de interesse direto de um número cada vez
menor de pessoas, embora a maior parte da humanidade seja concernida
por eles. Mas não pode se interessar por eles já que, embora sofra
suas conseqüências, não tem condições de interferir.
Mas pouco a pouco essa realidade é desvendada pelas
pessoas e pelos países mais pobres. Essa é uma contradição maior.
Nós abandonamos as teorias de desenvolvimento, o terceiro-mundismo,
que era a nossa bandeira dos anos 50 e 60. A noção política de
Terceiro Mundo foi produzida em grande medida graças à existência da
União Soviética; se ela não existisse, não haveria essa idéia
política.
Todavia, graças à globalização está surgindo uma
coisa muito mais forte: hoje é a história da maioria da humanidade
que conduz à consciência da existência dessa tercermundização (que
de alguma forma inclui também uma parte da população dos países
ricos). Há uma formidável contradição em busca dos seus intérpretes,
em busca de um discurso mais planetário e também nacional e local.
Esse discurso é dificultado por esse pensamento único, mas ele pode
se fazer.
Há algo de extraordinário nesse momento da
história, que é essa produção limitada da racionalidade capitalista
extrema e uma produção ilimitada do que seria a “irracionalidade”. A
racionalidade é resultado de um controle férreo, mas esse controle
joga fora do trabalho que admite controle um grande número de
pessoas. Se o trabalho é o lugar da descoberta da situação de cada
um, o trabalho no fim do século revela uma possibilidade de fugir ao
controle.
A exclusão e as formas de trabalho relativas à
exclusão, que chamo de “circuito inferior” – num livro que nunca
conseguiu ter voga no Brasil, mas que é muito usado na África e na
Ásia, O espaço dividido –, é exatamente uma discussão dessa
contradição dentro do sistema capitalista, entre uma visão do
trabalho por cima e uma visão do trabalho por baixo. Essa obra tem
vinte anos, mas já indicava essa tendência.
O trabalho que é feito pelos pobres, pelos
“marginalizados”, é portador da liberdade. Diferente do nosso
trabalho, que é portador de uma necessidade de enquadramento de cima
para baixo, do qual vem nosso sucesso. Esta produção limitada de
racionalidade é a mesma produção de menor número de empregos e de
atividades ligadas a essa racionalidade. Enquanto que eles chamam de
“irracionalidade” outras formas de racionalidade, que criam outras
formas de trabalho, essas sim portadoras do novo.
Existe, nesse cenário, possibilidade de desenvolvimento nacional
concebido como um processo que integraria nações, como ocorria no
momento em que existiam os projetos terceiro-mundistas?
Os ideais universalistas nunca tiveram uma
oportunidade tão grande de se afirmar. A construção desse mundo
novo, dessa outra globalização se dará por baixo, a partir de cada
país e em cada país, e não de cima para baixo.
No caso do Brasil em particular não há saída para a
Nação fora de um modelo que possa abarcar a maior parte da
população. A noção de desenvolvimento com a qual se trabalha hoje é
puramente ideológica, não tem fundamento na busca do bem-estar. Ela
não nos diz como vai ser esse bem-estar, não nos diz quanto tempo
vamos esperar por isso, não nos indica quais são os vetores que vão
ser postos em ação para chegarmos a isso. Acenam de maneira vaga com
a retomada do emprego e do crescimento, mas não dizem muito mais. E
toda essa formidável produção que existe hoje no Brasil e que impede
que o país se torne um vulcão ainda mais explosivo do que já é, tudo
isso não é contabilizado como economia. A economia é aquilo que se
refere a uma contabilidade imaginosa, imaginária, fruto da ideologia
da globalização. Esse é o debate que estou reclamando e para o qual
alguns economistas poderiam trazer a sua contribuição.
O que seria a mudança civilizacional necessária para organizar
uma outra lógica econômica capaz de abarcar a maioria da
população?
Seria deslocar a centralidade do dinheiro em estado
puro para o homem. Todo esse debate, quando não há crise, gira em
torno do dinheiro em estado puro, o homem sendo um elemento
residual. E o homem sendo residual, o território, o Estado-nação e a
idéia de solidariedade social também se tornam residuais. O que é
privilegiado são as relações pontuais entre grandes atores, cuja
lógica escapa a um raciocínio que tenha a menor base filosófica,
porque falta sentido ao que fazem.
O regresso à idéia do homem como o porquê de
trabalharmos está junto e por conseguinte busca estabelecer formas
de convivência. É o que está fazendo falta na formulação dos
políticos e de uma grande parcela dos intelectuais. Isso empobrece o
debate e impede que avancemos; buscamos soluções dentro de um
círculo fechado, dentro dessa racionalidade viciada.
O ponto de partida para se pensar alternativas
seria então a prática, a vida, a existência de todos, uma política
existencialista. Todos existindo e, por conseguinte, exigentes de
respostas às suas necessidades existenciais básicas, redefinidas com
a globalização. Voltamos, assim, à idéia do começo: os sistemas
técnicos do presente são utilizados para reduzir o escopo da vida
humana. Nunca houve na história sistemas tão propícios a facilitar a
vida e a felicidade do homem. Descobrimos os sistemas técnicos mais
dóceis e doces que já existiram e os empregamos no sentido da
perversidade! Nunca a inteligência foi tão necessária para fazer
funcionar a técnica como hoje, nunca a inventividade foi capaz de se
multiplicar, explorar milhões de possibilidades e todavia só as
utilizamos de uma única forma. Porque não há flexibilidade. Está
tudo aí, do ponto de vista da materialidade, para que a gente
promova um outro mundo. Está faltando o dado político. Mas, de
alguma forma, também ele já está surgindo, de baixo para cima. Temos
6 bilhões de pessoas no mundo, mas na realidade 4,5 bilhões não são
concernidas por essa globalização.
Num país como o Brasil, a população pobre não tem
como participar da globalização e é a primeira a recusá-la. Primeiro
porque não tem os meios materiais para isso e segundo pela recusa do
trabalho.O trabalho é fundamento da originalidade das soluções. Nós
intelectuais temos essa possibilidade, mas as outras pessoas do
nosso nível social não têm. Nós, intelectuais, temos mas não
queremos. Essa é a coisa nova que está surgindo e da qual os
partidos até agora não quiseram tirar partido. Porque recusam o seu
papel pedagógico e supervalorizam as preocupações eleitorais. Essa é
uma das dificuldades de não se reconhecer a presença de uma outra
lógica, contra-hegemônica, se manifestando no dia-a-dia. As pessoas
descobrem que são conduzidas e recusam a globalização, pobremente,
mas recusam.
Em sua obra, o senhor destaca bastante o papel das idéias nesse
fim de século…
Em toda a história do homem havia as idéias. Mas
hoje as técnicas são todas precedidas por idéias, enquanto antes não
era assim, a ciência não era o que levava às técnicas. A
tecnociência representa essa indispensabilidade da ciência num
momento em que a própria natureza é um pouco dispensada. A história
que estamos fazendo é sempre precedida por uma posição de idéias. As
idéias têm um papel-motor e o discurso também. Daí a força da
retórica. Creio que não acreditamos bastante na força das
idéias.
No caso do Brasil isso é muito claro porque as
coisas foram se dando de tal maneira que o intelectual não é
apreciado. Vivemos num país que ainda não elaborou seu código de
aceitação, de apreço do intelectual. Porque ele é queimado
rapidamente e “se dá” àquele deputado, senador ou ministro,
terminando por se tornar incapaz de exercer seu papel de crítica,
que é o papel central do intelectual. De crítica e de apego aos que
estão por baixo.
Pode-se dizer que hoje abandonamos a idéia de natureza, com o ser
humano cada vez mais vivendo no meio por ele produzido?
É curioso que neste fim de século, com a
globalização, a natureza tenha ganho tantos holofotes, mas não é
gratuito. Quando temos uma globalização totalitária, utilizando um
arsenal de técnicas extremamente poderoso, a natureza é atacada com
muita dureza. Ao mesmo tempo, a sociedade que era contida pela
natureza nos primeiros milênios, hoje é quem contém a natureza. O
que quero dizer é que cada pedaço de natureza vale pelo seu valor
social, se tornou global.
A Amazônia é muito diferente nos anos 20, 60 ou 90
em função do uso efetivo, potencial, ou imaginado, desse pedaço de
natureza. Então, ao mesmo tempo em que é verdade que os agravos à
natureza se amplificaram, é também verdade que não posso
interpretá-los fora do quadro da universalidade hoje dado pela
globalização.
Esse é o problema central que eu gostaria que
perturbasse um pouco o trabalho dos ecologistas, que nem sempre
estão abertos a essa discussão. Eles se tornam muito naturalistas,
frente a um dado cujo entendimento é apenas possível a partir da
história. Numa cidade como São Paulo, o trabalho é a inteligência da
inteligência. Porque o que está aí é tudo inteligência e nós não
trabalhamos sobre a natureza. Mas o marxismo renitente, não
renovado, insiste ainda na idéia de que a história é feita da
relação do homem com a natureza, quando na verdade ela é toda
mediada pelas idéias e pelo meio técnico-científico.
Mas o senhor destaca que as alternativas estão sendo construídas
a todo momento à nossa frente!
E não as vemos em função do nosso aparelho
epistemológico. Todos somos de tal maneira subordinados à episteme
norte-ocidental, que temos enorme dificuldade para pensar diferente.
Esse é um problema para as ciências sociais latino-americanas e
brasileiras. São por demais escravizadas pelo paradigma do Norte e
pela política que daí decorre.
Nunca pensamos o mundo a partir da América Latina.
Quem entre nós, intelectuais, pensou o mundo? A gente pensa Europa,
Estados Unidos e exclui a África e a Ásia. A própria construção
territorial da realidade nos escapa com muita freqüência na nossa
elaboração intelectual. Essa é a realidade que cobra de nós uma
outra epistemologia.
Sua obra enfatiza que o território é o local onde os seres
humanos podem ter uma vivência integrada. Mas hoje a globalização o
fragmenta e impede essa vivência. Qual a importância da idéia de
território para se construir uma alternativa a esse processo de
fragmentação?
O território tanto quanto o lugar são
esquizofrênicos, porque acolhem os vetores da globalização, que
passam por eles para impor essa nova ordem – que eu espero seja
passageira. Mas, de outro lado, produz-se a partir de cada lugar a
contra-ordem, porque há uma produção acelerada de pobres, excluídos,
marginalizados, isto é, de pessoas que não têm como se subordinar
permanentemente à racionalidade hegemônica e que estão juntas, como
parte de uma vizinhança. Em alguns filósofos, sobretudo em Sartre,
essa categoria de vizinhança surge autorizando manifestações da
emoção que adoçam o rigor do pragmatismo na busca da
sobrevivência.
Temos, na base da sociedade, um pragmatismo
mesclado com a emoção a partir dos lugares e das pessoas juntos.
Esse é hoje o mecanismo de insurreição em relação à globalização,
essa descoberta de que somos outra coisa e podemos continuar sendo
outra, ainda que mudando todos os dias. E com esse número de pessoas
aumentando em um espaço reduzido e fazendo todo dia a descoberta da
sua incompatibilidade com o que está aí. Elas têm dificuldade de
exprimir essa inconformidade, em função do peso do discurso que
todos os dias atravessa a vida de todo mundo.
O subtítulo de A natureza do espaço faz referência
a essa distinção. É opondo técnica e tempo, que estão juntos, e
razão e emoção, que se opõem, mas também estão juntos. Porque essa
razão emotiva, a inteligência emocional de que falam os livros que
compramos nos aeroportos, é baseada na vida, na existência.
O senhor procura articular em sua obra um esforço universalista,
muito bem concretizado, dialogando muito com questões irredutíveis
ao universal…
Essa irredutibilidade hoje é dada, entre outras
coisas, pelo corpo e pelo território, os dois grandes irredutíveis
do mundo contemporâneo. O corpo é uma herança e, ao mesmo tempo, o
depositário da esperança, do futuro, ainda que soframos a pressão do
presente. E o território também, porque ele realiza anastomoses, uma
palavra da bioenergia, que significa que ele realiza as combinações
próprias dele, que fazem com que ele mude em função do global e a
despeito do global.
Isso afeta de forma diferente o campo e a cidade?
É outra vez a esquizofrenia do território. A
globalização torna o campo muito vulnerável. O campo moderno é
obediente, a cidade, não. Esta resiste, inclusive porque, voltando a
Marx, o capital físico, fixo, não se moderniza rapidamente, enquanto
no campo sim. É por isso que a cidade atrai tanta gente pobre,
produz tanta gente pobre e se fortalece do ponto de vista da
produção do futuro, da produção política. Porque isso leva a uma
produção econômica, a uma produção cultural variável e a uma
produção política na cidade. A cidade é um ente econômico cuja
existência é menos dependente, seja da globalização, seja do Estado
central. É nisso que ela faz renascer a Nação.
Celso Furtado diz que a globalização representa uma interrupção
do processo de construção nacional. O senhor destaca o processo de
fragmentação do território. São duas facetas do mesmo
processo?
Creio que sim. Eu parto do território, o Celso,
apesar do seu talento multiforme, parte da economia e da filosofia,
porque não é um economista vulgar. Então, são os dois
complementares. Há uma fragmentação à medida em que o Estado
torna-se incapaz de administrar em conjunto os pedaços do
território. Essa administração em conjunto é impossível ao Estado,
mas também é impossível aos vetores globais. Cria-se, então, uma
desordem no território. A cidade é uma desordem também. Mas ela tem
a sua ordem, econômica, cultural, política, olhando de múltiplas
formas o futuro.
O campo olha muito mais para o presente. Tenho uma
visão otimista, porque creio que a Nação – despedaçada sobre o
território como um todo – se refugia nas grandes cidades. E acaba
por impor ao país a sua cultura e a política da sua cultura. É uma
construção da vontade de ser cidadão e que deverá se materializar em
participação política, em uma retomada do processo de construção
nacional. Essas são as forças centrípetas.
O processo da globalização, tal como se dá hoje, é
centrífugo. Ele é produtor de uma fragmentação crescente em todos os
níveis: os jovens contra os velhos, os funcionários públicos contra
os privados, uma região contra outra etc. Temos uma multiplicação de
fragmentações que se acumulam. Ninguém fala mais do mercado
nacional; quando os industriais se reúnem hoje com os operários,
eles falam da produção, não falam do mercado nacional. A palavra foi
banida do vocabulário.
Teria deixado de existir um espaço de integração nacional que
esse mercado propiciava?
Essa ideologia do mercado nacional, que na minha
geração era apontada como a grande saída para melhorar a vida de
todo mundo, ficou em segundo lugar. Então, os discursos pragmáticos,
ainda que aparentemente futuristas, recusam a palavra. Já estamos
atingindo os limites do discurso ideológico da globalização e do
dinheiro. A imprensa começa a dar estatísticas que não surgiram
durante quatro anos. As pessoas começam a não mais considerar o real
como um dado isolado e a colocá-lo num sistema. E quando colocamos
as coisas num sistema, o nível de consciência aumenta. A primeira
reação da população pobre, como qualquer outra, é a do consumo
também. Está brigando para ser cidadã, mas primeiro quer consumir.
Isto é normal. Depois é que se descobre que não basta consumir, ou
que para consumir de forma permanente, progressiva e digna, é
necessário ser cidadão. Dizem com desdém: “o pobre quer televisão” –
e por que não? Na verdade, um mínimo de consumo é condição
indispensável para ser cidadão. Agora, isso deve conduzir a outra
organização política do Estado, a outra arquitetura política. O que
estamos vendo é uma reforma da Constituição de cima para baixo, para
responder aos imperativos do ajuste neoliberal. Mas haverá outra
etapa, que é o encontro desses vetores de cima para baixo com os
vetores de baixo para cima.
O senhor destacou inclusive a necessidade de outra forma de
organização da Federação…
Acho que isso vai acontecer. Meu medo é que não
estejamos preparados para o debate, como não estivemos em 1988. Não
tínhamos, então, o fundamento “acadêmico” para fornecer aos
políticos. Os políticos não são obrigados a ter idéias coerentes,
mas nós – intelectuais – somos, e não estávamos em condições de lhes
oferecer. O meu medo é que continuemos sem ter esse material para
entregar aos sindicatos, às igrejas, aos partidos, aos grêmios
etc.
Essa nova forma de organização da Federação
partiria dos de baixo, dos excluídos pelo processo da globalização.
Quem se comunica pela Internet não são os de baixo. Essa comunicação
distante não é própria deles. Os lugares são feitos sobretudo pelos
de baixo, são eles que se comunicam nos lugares, são eles que estão
reclamando alimentação correta, saúde, educação para os filhos,
lazer, informação e consumo político – que é uma reclamação também
não muito clara, mas que vai aparecer daqui a pouco, a partir de uma
base local. Uma nova distribuição de atribuições, de recursos, a
consideração dos novos direitos que a globalização e suas técnicas
levantam, uma nova idéia de democracia, tudo tem que ser
retrabalhado a partir de lugares.
A política local hoje não é obrigatoriamente
caipira. Antes da globalização, nas fases em que os lugares não se
comunicavam, em que os lugares eram locais mas não globais como
hoje, as visões eram caipiras, ou tendiam a ser provincianas. Hoje
não, podemos ter todas as visões, mundial, nacional, local, a partir
do lugar. São condições que o mundo da globalização oferece para
essa reforma política e que não eram possíveis antes. São fenômenos
como essa multiplicação de telefones, rádios, imprensa local, as
dezenas de revistas como a sua, que encontram clientela,
seguidores.
Essa nova arquitetura política teria como referência o terreno
local das grandes metrópoles?
Em parte. Mas as cidades médias são porta-vozes
igualmente importantes dessa esquizofrenia. Porque elas recebem de
fora as instruções para acorrentar os que trabalham em suas regiões
e ao mesmo tempo elas transmitem demandas, inclusive aquelas que vêm
do fato de as pessoas não entenderem mais os processos onde estão
inseridas. O produtor de frango faz o frango como a Sadia manda
fazer, mas não entende porque fica pobre, porque não cresce. Daí
essa demanda de compreensão que a cidade intermediária de alguma
maneira fornece, através de veículos de imprensa transversais como o
seu, como Caros Amigos ou Carta Capital, como de certo modo a
República. A materialidade que o mundo da globalização está
recriando permite um uso diferente daquele que era o da base
material da industrialização.
A informação e as indústrias da informação exigem
mais inteligência, permitem mais flexibilidade e com pouco recurso
você comunica, pode ter uma Internet democratizada. É por isso que
sou otimista em relação ao potencial emancipador dos meios técnicos
utilizados a partir da política de baixo. A política dos de baixo
não é a do ministério reunido ou a do comitê central dos partidos.
São as pessoas vivendo, existindo e falando umas com as outras,
pessoas que têm necessidade da codificação e da síntese política em
novas instituições.
Nós estamos fazendo aqui uma síntese política que
não é comprometida com nenhum partido. São dois momentos políticos:
um do intelectual público, outro dos partidos. O intelectual público
é cada vez menos o intelectual cosmopolita, internacionalizado. Este
está ameaçado de apodrecimento, porque é sempre obrigado a ceder, a
não se aprofundar, a aceitar uma linguagem mais racional, enfim, a
ser traduzido. Enquanto o intelectual público tem um discurso forte,
um discurso político. E aí vêm os partidos, que correspondem a outro
momento, o momento da conversa orientada, da discussão medida, do
acordo, do encontro, da votação. Nosso trabalho é sermos radicais. E
o político tem como seu trabalho central negociar. O problema é que,
por enquanto, não há como os intelectuais e os partidos trabalharem
no mesmo terreno.
Uma síntese política tem que ocorrer também no
Estado, porque em última instância novas relações têm que se
materializar em organização político-jurídica, no sentido estatal. E
isso implica em cristalização de correlação de forças, mudança de
instituições. Uma mudança profunda. Uma coisa que me choca é que
percebo, pelos contatos obrigatórios com as empresas, que elas
legislam mais fortemente o meu cotidiano do que o Estado.
A noção de democracia, de cidadania, tudo isto tem
que ser revisto. Essa discussão de mudança do Estado, sem discutir
como o poder se exerce, é vazia. Nos venderam a idéia de que as
empresas são a economia e o Estado é o poder. Não é nada disso, as
firmas são o poder.
Quando a Sadia estabelece uma rede de fornecedores,
ela está mudando a economia dessa parte do território, estabelecendo
novas relações societais. Ela está imprimindo uma direção aos
orçamentos públicos.
Não estamos discutindo no Brasil essas questões, ou
em todo caso, não temos trabalhado de maneira sistemática para
oferecer os elementos que podem servir de base ao discurso político
dos partidos.
Meu grupo de pesquisa está trabalhando, a partir
deste ano, sobre o que chamamos de “empresas territoriais”, sobre a
relação das empresas com o território, estudando como elas acabam
governando o território, por sobre os municípios, estados e até
mesmo a Federação. Se chegarmos a algumas idéias, não digo nós, mas
cem ou duzentos grupos como os nossos, ofereceremos uma radiografia
do país, uma contribuição a essa produção de um novo tipo de Estado,
com outra forma de organização da economia e outro recorte das
atribuições do Estado e das empresas em função do homem e não das
próprias empresas. O problema hoje é que tudo é feito para que
algumas empresas sejam vigorosas e o homem torne-se residual. Mas se
partirmos do território, é impossível excluir o homem, porque o
território não exclui ninguém. Estão o rico, o pobre, o negro, o
branco, o culto, o analfabeto, a grande empresa, o ambulante, todo
mundo junto. Este existencialismo territorial pode oferecer análises
úteis para que o especialista da coisa política reelabore.
Essa é a nova geografia que estamos tentando
instalar, que é mais complexa e mais humilde também, porque parte
das coisas simples. Mas creio que pode ajudar.
*José
Corrêa Leite é editor do jornal Em Tempo e membro do
Conselho de Redação de TD.