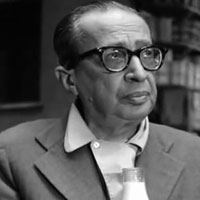O curto verão de uma teoria do século 20
Publicado em 21/04/96 no caderno Mais! da Folha de São Paulo.
John Maynard Keynes (1883-1946) foi talvez um dos homens mais interessantes do século 20. Como especialista da teoria do valor e da moeda, ele desfrutou de eminente reputação já desde a Primeira Guerra Mundial. Mas seus interesses eram muito mais vastos. Matemático nato, primeiro granjeou fama internacional com seu ”Tratado Sobre a Probabilidade” (1921). Seu verdadeiro amor, porém, era a filosofia. Mas não lhe foi dado exercer funções acadêmicas nessa área em Cambridge, como esperava. Embrenhou-se na política, foi enviado como funcionário da Coroa Britânica à Índia e obteve sucesso também como economista no Tesouro e na Bolsa. Seu patrimônio lhe emprestava a independência financeira; promotor das artes, foi também um grande colecionador. Arrematou o espólio de Isaac Newton, tornou-o acessível à pesquisa e chegou mesmo a publicar sobre o assunto.
Essa amplitude do horizonte intelectual não se deixava capturar nos estreitos limites de uma disciplina acadêmica. À semelhança de Marx, encontramos a cada passo nos escritos de Keynes reflexões interdisciplinares nas quais ressurge a unidade entre filosofia, política e economia. E, no entanto, o economista Keynes, como ele próprio afirmava, jamais transgrediu as fronteiras de sua tradicional especialidade ou do renome acadêmico de sua instituição. De certa maneira, sua obra teórica contém um elemento daquilo que o filósofo Hegel denominou ”consciência infeliz”.
Também sua vida pessoal é marcada por certos laivos desse infortúnio. O ilustre graduado por Eton movia-se nos mais altos círculos da sociedade oficial, mas desposou a dançarina russa Lydia Lopokova (e interessou-se ainda mais, desde então, pela história do teatro e do balé). Sua índole foi impregnada por fortes inclinações homossexuais, como correm os boatos. Talvez John Keynes tenha sido uma águia encerrada numa gaiola de ouro. E talvez sua infelicidade fosse não poder ser o outsider rebelde de seus sonhos.
Esse elemento de ”consciência infeliz” comparece também em sua principal obra, publicada em 1936 (”Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda”), considerada mais tarde como o estopim da ”revolução keynesiana” na teoria econômica. Até essa data, vigorava na disciplina acadêmica o indisputado teorema formulado por Jean-Baptiste Say (1767-1832), segundo o qual toda oferta cria automaticamente sua própria demanda e o equilíbrio do mercado, em princípio, pode ser alcançado pela ação do próprio mercado. Say sistematizou assim uma idéia fundamental, que já era verificada nos economistas clássicos Adam Smith e David Ricardo. De acordo com tal concepção, disfunções no mercado, crises e desemprego são sempre resultado de ”causas extra-econômicas”. Responsáveis para tanto são as guerras, a política e ”last but not least” os sindicatos, que supostamente adulteram o processo ”natural” do mercado.
Keynes foi o primeiro economista sério a pôr em questão os fundamentos deste teorema. Mas não foi o primeiro teórico a fazê-lo; há quase um século, Karl Marx, o ”enfant terrible” da ciência moderna, já explicara as crises não por ”causas extra-econômicas”, mas pelas próprias leis do modo de produção capitalista. Marx, porém, não era tido como sério; sua teoria não teve acesso ao panteão oficial e, como notou Keynes, foi proscrita a um ”mundo inferior” por força da ciência acadêmica. Assim, Keynes assumiu a melancólica tarefa de formular a crítica a Say já desenvolvida há tempos por um outsider e introduzi-la no seio do estudo universitário. A ”revolução keynesiana” não foi uma revolução contra a teoria dominante, mas sim o paradoxo de uma revolução do próprio establishment científico.
A fama de Keynes é impensável sem a grande crise econômica mundial de 1929-33. Esse terremoto econômico abalou tão profundamente a sociedade moderna, que os próprios fundamentos básicos da economia clássica vacilaram. A ”Teoria Geral” de Keynes pode ser compreendida como a resposta da ciência acadêmica à crise econômica mundial. Keynes provou que o teorema de Say só representa um caso específico e não pode reivindicar validade universal. Um equilíbrio relativo do mercado é possível também a níveis baixos e com a difusão em larga escala do subemprego. Em outras palavras, o próprio mercado pode levar a uma situação em que não haja demanda suficiente por bens de consumo e investimentos, de modo a fazer com que uma boa parcela da oferta social da força de trabalho não encontre demanda alguma, independentemente das manobras sindicais.
Ao contrário de Marx, Keynes não reconheceu nesse fato os limites da economia moderna. Ele considerava possível superar a deficiência na demanda. Isso não ocorreria, no entanto, por meio de simples decisões microeconômicas dos indivíduos e das empresas, mas sobretudo com auxílio de medidas macroeconômicas aplicadas à circulação econômica como um todo. Keynes salientou, com isso, o significado preponderante da macroeconomia negligenciado pelos clássicos.
Baseou-se para tanto no conceito de ”demanda agregada” (o conjunto de gastos dos consumidores, investidores e do poder público), cuja maximização na economia inglesa já era designada antes de Keynes como ”Welfare Economics”. Keynes, todavia, de forma mais enérgica que seus precursores, desligou tal conceito de uma simples adição de ”demandas individuais”. Desde Keynes, a ”Welfare Economics” adquiriu um significado inteiramente novo, fundado em bases macroeconômicas.
Como a maioria dos socialistas, Keynes quis também mobilizar o Estado como uma espécie de deus ex machina, a fim de controlar a crise econômica. À diferença do socialismo, não caberia ao Estado assumir o papel de ”empresário global”, mas sim exercer a simples função de estimular a demanda carente por intermédio de medidas macroeconômicas. Com um aumento na quantidade de moeda, com a repartição de rendas e com investimentos públicos suplementares, o Estado seria capaz de atingir tal objetivo. Para que os investimentos públicos adicionais não resultem num jogo econômico de soma zero, diz Keynes, eles não devem ser financiados por impostos suplementares, pois desse modo o aumento da demanda pública só se daria pelo fato de estrangular a demanda privada. O Estado teria assim de financiar seus investimentos adicionais por via do ”deficit spending” (gasto deficitário), ou seja, contraindo empréstimos e intensificando o trabalho das prensas na Casa da Moeda.
Keynes preconizou medidas estatais tidas até então como levianas e perigosas. Mas para tanto pôde basear-se numa prática econômica que se tornara regra após a Primeira Guerra Mundial. A ”Welfare Economics” manteve desde o início uma estreita relação com a ”Warfare Economics”, a economia de guerra. O denominador comum era o ”deficit spending”.
Desde os primórdios da era moderna, muitos Estados endividaram-se em tempos de guerra, uma vez que as receitas regulares arrecadadas com impostos não eram suficientes. Na Primeira Grande Guerra, porém, essa prática ganhou novos contornos, pois os custos com a administração industrial da guerra excederam todas as dimensões até então conhecidas. Na época, ainda se acreditava que o enorme endividamento estatal era um fenômeno passageiro da guerra. Sob o influxo da crise econômica mundial, contudo, Keynes sugeriu implementar o ”deficit spending” para tomar as rédeas da economia civil. Chegou mesmo a propor ao Estado em crise, caso fosse necessário, ”construir pirâmides” ou ”cavar buracos e tapá-los novamente”, a fim de suscitar uma demanda adicional. Involuntariamente, provou assim que a economia moderna tem o caráter de um absurdo fim em si mesmo. O consumo insensato e destrutivo de recursos nas indústrias militares da morte repete-se na economia civil, com o único propósito de alimentar a cega dinâmica monetária. Dessa perspectiva, mais uma vez, a teoria de Keynes revela uma ”consciência infeliz”.
O destino histórico da ”revolução keynesiana” foi extremamente singular. Tanto a prática econômica do ”New Deal” do presidente norte-americano Roosevelt quanto a da ditadura fascista na Alemanha (respostas, uma e outra, à crise econômica mundial) indicam uma certa semelhança com as idéias de Keynes. Mas tais práticas surgiram de forma espontânea e pragmática e, em todo caso, não foram legitimadas pela ”Teoria Geral”.
Após a Segunda Guerra Mundial, grande parte da nova geração de economistas foi influenciada por Keynes. Em contrapartida, a antiga geração, que ainda ocupava a maioria das cadeiras acadêmicas, aferrava-se com empenho à teoria clássica. Nesse meio tempo, contudo, os próprios paladinos dos clássicos reagiram à crise econômica mundial, se bem que de forma diametralmente oposta a Keynes. O economista alemão Walter Eucken (1891-1950) reduziu a crise ao fato de a concorrência dos agentes econômicos não estar suficientemente assegurada e o mercado poder conduzir, por si mesmo, a monopólios. Em seu argumento, defendia a intervenção do Estado, mas não através do ”deficit spending” no plano macroeconômico, como em Keynes, e sim através de uma ”política de ordenação” institucional, cuja tarefa era garantir a livre concorrência. Essa escola foi chamada ”neoliberalismo”.
Nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, os neoliberais ganharam ascendência sobre os keynesianos. E o inesperado boom dos anos 50 e 60, em especial o ”milagre econômico” alemão, parecia depor contra Keynes. O ministro da economia alemão Ludwig Erhard, uma figura simbólica da prosperidade do período, declarou-se partidário da doutrina neoliberal. Mas a prosperidade não tinha sua causa numa concorrência mais livre do que antes, mas no desenvolvimento estrutural das indústrias (produção de automóveis, geladeiras, lavadoras, televisores etc.), que desencadeou uma enorme demanda em todos os níveis (emprego, consumo, investimento). Além disso, tal evolução foi posta em movimento (pelo menos indiretamente) por iniciativa estatal. O tiro de largada foi dado justamente pela ”Warfare Economics” da Guerra da Coréia, no início dos anos 50; desde então, os EUA, como polícia mundial, aperfeiçoaram uma ”economia permanente de guerra”, mantida à custa de um contínuo ”deficit spending”.
Mas os tempos do ”milagre econômico” foram apenas um curto verão siberiano da história do pós-guerra. Já nos anos 60, as taxas de crescimento decaíram novamente; na década de 70, o mundo foi rondado pelo espectro de 1929. Parecia ter chegado a hora do keynesianismo, sobretudo porque nesse meio tempo os jovens economistas dos anos 40 ascenderam a posições de destaque. Nos maiores países ocidentais, em especial nos EUA, na Inglaterra e na Alemanha, teve início uma era de política econômica keynesiana. O ”deficit spending” foi implantado em grande escala como o marcapasso do capitalismo. A maioria dos planos de desenvolvimento do Terceiro Mundo também sofreu a influência de Keynes.
Deve-se dizer, infelizmente, que o verão do keynesianismo foi ainda mais curto que a era de prosperidade neoliberal. O próprio Keynes acreditou que o ”deficit spending” pudesse restringir-se a uma espécie de impulso inicial para a dinâmica interna do mercado. Mas logo tornou-se evidente que o coração do mercado não era capaz de pulsar sem marcapasso. O resultado foi uma inflação meteórica e uma crise generalizada das finanças estatais. Com essa nova crise, no início dos anos 80, o keynesianismo foi definitivamente sepultado. Confirmou-se assim sua ”consciência infeliz”: para a crise econômica mundial, chegara muito tarde; na prosperidade após 1950, não foi utilizado; quando finalmente se tornaria o ”príncipe encantado” da economia, já estava envelhecido.
Qual foi o erro? Keynes, assim como seus rivais neoclássicos ou neoliberais, não entendia a economia moderna como um processo histórico (irreversível), mas como a forma de existência de categorias econômicas atemporais.
Isso é surpreendente, pois já num ensaio de 1930 ele foi um dos primeiros a referir-se ao conceito de ”desemprego estrutural”, prevendo que ”nossa descoberta de meios para economizar trabalho progride mais rápido do que nossa capacidade de encontrar novos empregos para a mão-de-obra”.
Mas, porque acreditava que esse estágio seria atingido somente dali a um século, ele não seguiu o fio de seu pensamento. Na ”Teoria Geral”, o que está em jogo não é o verdadeiro desenvolvimento estrutural do capitalismo, mas sim a intemporal ”psicologia dos agentes econômicos” e sua possível aplicação aos sistemas econômicos temporais. O keynesianismo dos anos 70 não fracassou nesse último plano em virtude de uma política econômica ”equivocada”, mas sim pelo de fato de que as indústrias responsáveis pela evolução histórica estavam estruturalmente esgotadas após a Segunda Guerra Mundial.
Desde a década de 80, a revolução microeletrônica tem avançado nos limites da economia moderna profetizados por Keynes em 1930 (embora sua avaliação fosse naturalmente imprecisa). Eis por que sua própria teoria perdeu a razão de ser. Isso vale também para as medidas político-econômicas por ele propostas, as quais pressupõem economias nacionais relativamente fechadas.
Keynes tinha plena consciência disso e logo fez notar os riscos de uma expansão desenfreada do mercado mundial. Ora, desde o fim do keynesianismo os economistas padecem de uma perda de memória coletiva. Em vez de admitir os limites do sistema econômico moderno, eles elaboraram o neoliberalismo e voltaram a falar da teoria clássica há muito refutada, como se a crise econômica mundial e percalços dos anos 70 jamais tivessem ocorrido. Mas quem simplesmente se esquece da história em vez de superá-la criticamente está condenado a senti-la na pele mais uma vez.