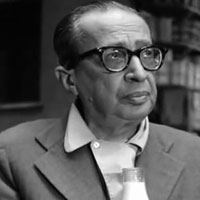O mito do capitalismo confuciano
Publicado em 15/09/96 no caderno Mais! da Folha de São Paulo.
Há muito que a influência recíproca entre economia e cultura no sentido mais amplo é um tema das ciências sociais. Quanto a isso, pode-se observar essencialmente duas vertentes de idéias: uma que parte das leis gerais do capitalismo e mostra como as culturas tradicionais são destruídas pela economia moderna, e outra que parte inversamente da diversidade das culturas e mostra como o capitalismo é culturalmente determinado e de seus amplos círculos culturais resultam versões inteiramente diversas de sua lógica geral.
Esse vínculo entre economia e história cultural, particularmente acalentado na Alemanha desde Werner Sombart e Max Weber, rendeu o conceito de “estilo econômico” (Bertram Schefold). Tal princípio tem hoje grande estima no Ocidente. O sociólogo francês Pierre Bourdieu alude a um “capital cultural”, e o historiador americano Samuel Huntington, após o colapso do socialismo de Estado, vê mesmo o alvorecer de uma “guerra das culturas”. Ao mesmo tempo, a nova autoconsciência do capitalismo asiático reporta-se a uma “identidade cultural” própria, que seria superior àquela do “Ocidente decadente”.
Max Weber, que de bom grado é tratado como precursor desse pensamento econômico em categorias culturais, sem dúvida não dispunha da idéia de um capitalismo conjugado culturalmente no plural quando passou a redigir sua sociologia das religiões e investigar a relação entre as culturas definidas religiosamente e o capitalismo moderno. Interessava-lhe antes o surgimento histórico do próprio capitalismo e o problema da transição para a modernidade.
De fato, em todas as sociedades pré-modernas, inclusive na Europa, os motivos sociais e econômicos eram definidos pela religião, sendo assim incompatíveis com o cálculo abstrato do “homo economicus”. A teoria trataria de explicar por que apenas no norte da Europa Ocidental ocorrera um autêntico nascimento do capitalismo, ao passo que tal modo de produção fora impingido nas demais regiões do planeta.
Como todos sabem, Weber chegou à conclusão de que a ideologia religiosa do protestantismo era a única transição adequada a uma mentalidade capitalista, ao passo que as outras culturas religiosas, inclusive o budismo e o confucionismo, revelavam-se incapazes de constituir um conveniente pano de fundo cultural para o desenvolvimento do capitalismo.
O interessante é como Weber fundamentou essa tese. Ele tinha consciência de que tanto o protestantismo puritano quanto a ética confuciana favoreciam uma sólida moral do trabalho e um pensamento racionalista. Por que então o confucionismo não seria igualmente indicado como o protestantismo para o advento capitalista?
Para Weber, como se lê em sua “Ética Econômica das Religiões Mundiais”, a diferença fundamental era a importância das relações sociais no exterior do sistema econômico em sentido estrito: “A ética confuciana, de forma absolutamente deliberada, deixava os indivíduos à mercê de suas relações naturais ou pessoais, sendo estas determinadas por vínculos sociais hierárquicos. Ela transfigurava eticamente estas últimas, e apenas estas, e por fim desconhecia todas as obrigações sociais que não os deveres de piedade humana criados por tais relações pessoais de indivíduo para indivíduo, de príncipe para criado, de funcionário de hierarquia superior para o inferior, de pai para filho, de irmão para irmão, de professor para aluno e de amigo para amigo. Para a ética puritana, ao contrário, essas relações puramente pessoais _embora, é claro, ela as deixasse existir, se não fossem contrárias a Deus, e as regulasse eticamente_ eram levemente suspeitas, pois que valiam para as criaturas. A relação com Deus lhe era sob todas circunstâncias precedente. Puras relações humanas como tais, demasiadamente intensivas e idólatras da criatura, deviam ser evitadas por completo. De fato, a confiança nos homens, mesmo nos vizinhos de sangue mais próximos, seria perigosa à alma. (…) Seguem-se daí importantíssimas diferenças práticas das duas concepções éticas, embora designemos ambas como ‘racionalistas’ em sua aplicação prática e embora ambas deduzam consequências ‘utilitárias’±”.
Caso substituamos o “Deus” puritano pelo valor econômico ou simplesmente pelo dinheiro, logo salta à vista a concepção ocidental e liberal do homem como um egoísta isolado, que sacrifica todos os vínculos pessoais e sociais no altar da racionalidade econômica abstrata e do puro sucesso individual. E, uma vez que o confucionismo resiste fundamentalmente a tal impulso, Max Weber o toma como inapto ao capitalismo, à diferença do ideário protestante.
É controverso se a específica religiosidade protestante secularizou-se e com isto originou o capitalismo, ou se antes o capitalismo nascente aproveitou-se da ideologia protestante e talhou-a segundo sua própria imagem mundana. O certo é que apenas esse amálgama europeu de protestantismo e capitalismo deu luz ao mundo moderno do mercado total, ao passo que nas culturas muito mais antigas da China, do Japão e do resto da Ásia o capitalismo foi importado com as idéias européias e não se desenvolveu a partir de dentro.
Nesse sentido histórico, Max Weber não pode mais ser refutado. Contudo, sua tese sobre a escassa capacidade de integração capitalista do confucionismo (assim como do budismo e de toda a mentalidade asiática) provou-se falsa, já que hoje a China, o Japão e os “pequenos tigres” parecem criar um capitalismo especificamente asiático, que no fundo se afasta da versão ocidental, remonta a tradições culturais próprias e é tido como um extraordinário sucesso.
Será então o individualismo econômico socialmente descompromissado e devotado apenas ao “Deus” do dinheiro uma partícula expletiva ou inessencial do modo de produção capitalista? Será que hoje em dia somos testemunhas do nascimento na Ásia de um capitalismo superior, que se reporta ao “capital cultural” da lealdade pessoal e social? Tal foi a hipótese recentemente defendida pelo politólogo norte-americano Francis Fukuyama, que se tornou célebre com sua tese sobre o “fim da história”.
Creio que estamos às voltas aqui com uma grande ilusão que só será esclarecida por meio da incomensurabilidade histórica do desenvolvimento. O capitalismo asiático não foi responsável pela criação de um novo modelo, mas apenas percorreu uma etapa do desenvolvimento capitalista, que no passado não foi estranha ao Ocidente.
Todas as sociedades pré-modernas e no início da modernidade, inclusive na Europa, foram impregnadas por uma estrutura de reverência autoritária, por um sistema de lealdades e sujeições pessoais, assim como por uma rigorosa moral. Isso não é uma especialidade asiática, mas um estigma universal da transição de sociedades agrárias para o capitalismo.
Ora, se a ideologia individualista do protestantismo pôde sozinha dar à luz um capitalismo próprio e autêntico, é difícil aceitar que os países asiáticos, meros importadores do capitalismo, possam conservar o teor de submissão autoritária e de lealdade pessoal por meio de formas culturais que já no passado não demonstravam boa vontade com o capitalismo. A nova autoconsciência da Ásia é uma auto-ilusão, pois a absorção do capitalismo foi realizada a expensas de sua própria autonomia.
O fato de as estruturas do capitalismo asiático serem historicamente atrasadas e incapazes a médio prazo de resistirem economicamente ao mercado mundial pode ser dissimulado no presente pela concessão de vantagens concorrenciais de curto prazo, que numa certa perspectiva constituem os (temporários) “windfall profits” da incompatibilidade histórica _mas isto somente para minorias em alguns poucos países.
O principal fator não são porém as formas especificamente asiáticas do “capital cultural”, mas os elevados índices de crescimento a partir de bases reduzidas, como já se observara antes em outros países recém-industrializados, a exemplo da União Soviética na década de 30, sem que disso redundasse um novo “modelo de sucesso”. Apenas diante desse pano de fundo econômico é que as relações autoritárias de lealdade podem desempenhar por algum tempo o papel de esteio do sucesso.
Se neste respeito tanto a relação do cidadão com o Estado quanto a do assalariado com o empregador são reinterpretadas quase como um vínculo pessoal de lealdade de “príncipe para criado”, isso não passa de uma máscara para a reificação e anonimização capitalista de todas as estruturas sociais.
O pré-capitalismo europeu também foi testemunha de empreendimentos patriarcais, nos quais a dependência social manifestava-se como relação do “senhor” com seu “séquito”. Da mesma forma, a intervenção autoritária do Estado na economia e o patrocínio de associações corporativas a serviço da “nação”, desde o absolutismo até as ditaduras modernizadoras do século 20, foram tão-somente uma “fase de crisálida” da moderna democracia capitalista e seu individualismo abstrato, corruptor de todo tipo de lealdade social.
Na medida que favorece uma forte mediação do Estado na economia e um pesado gravame dos mercados internos, o capitalismo asiático recria a época mercantilista do Ocidente e uma certa uniformização de todos os cidadãos _o constante entoar dos hinos nacionais etc. constituem no máximo uma música de fundo superficialmente cultural desse processo.
A transposição para o âmbito econômico-empresarial no Japão de exercícios rituais tais como o esporte matutino semimilitar praticado coletivamente pelos empregados ou a entoação solene dos “hinos da empresa” foi interpretada de forma equívoca e ridícula como uma “nova arma secreta” da filosofia administrativa asiática e macaqueada pelos projetos da “corporate identity”, ao passo que se tratava na verdade de fenômenos de transição da mentalidade feudal para a capitalista.
Sob o influxo da globalização, em toda a Ásia desmorona o corporativismo mediador do Estado, bem como a lealdade patriarcal às empresas. No mercado interno, impõe-se a lógica da concorrência, e no lugar da “corporate identity” asiática surge o princípio hipercapitalista do “hire and fire”.
Com o tempo, este também será o destino dos laços e deveres estritos de consanguinidade, que não constituem igualmente uma especificidade asiática. Até hoje, espalhadas por todo mundo, “grandes famílias” e clãs em número considerável restam como fósseis da história da modernização _na Arábia, África e América Latina, bem como na China ou em Cingapura_, sem representarem porém um “modelo capitalista”.
Talvez o capitalismo confuciano e familiar elaborado em miniatura na China seja hoje responsável por uma parcela do crescimento, mas suas atividades restringem-se a serviços secundários, e ele é incapaz de suprir a indústria estatal. Para a industrialização voltada às exportações, segundo os critérios do mercado mundial, ele será antes um obstáculo _e isso já a médio prazo. Os próprios imigrantes asiáticos nos Estados Unidos, festejados como um exemplo de empreendimento bem-sucedido, possuem muitas vezes meros nichos econômicos no comércio ou pequenas cantinas que não refletem de forma alguma um capitalismo autônomo.
O princípio desse sucesso é simples: a exploração brutal da lealdade familiar, inclusive à custa de trabalho infantil e não remunerado, para abaixar o preço do produto final. Muitas vezes o mesmo princípio é seguido por migrantes vindos do sul da Europa (Turquia, Grécia, Espanha) em suas pousadas e mercearias na Alemanha. Quantas gerações suportará tal estrutura de escravidão familiar? Poucas, decerto.
O processo de individualização capitalista, destruidor de laços familiares, como escreviam Marx e Engels já no “Manifesto Comunista”, alcançou agora os grandes centros metropolitanos da Ásia e não será barrado pelo código da polícia moral confuciana.
Em Cingapura, como posso ler, cuspir na rua e urinar em elevadores é punido a golpes de chibata. Pergunta-se: os habitantes de Cingapura costumavam antes urinar em elevadores? Tais preceitos fatalmente trazem à memória as ordens policiais alemãs do século 16, quando o mundo europeu achava-se ainda a caminho do “processo (capitalista) da civilização” (Norbert Elias) e até a vida íntima era regulada pela polícia. Os indivíduos no capitalismo tardio não urinam em elevadores, mesmo sem a ameaça policial; pelo fato, no entanto, de controlarem seus reflexos íntimos, eles calculam também sua vida sexual para além da rígida moral do patriarcado.
Não foi o êxtase e o arrebatamento que surgiram em seu lugar, mas a comercialização da sexualidade ou dos próprios sentimentos. É absurdo supor que justamente estes países asiáticos _os quais como se sabe não vivem só da exportação de seus carros e chips, mas também do turismo sexual_ queiram fundar um capitalismo sobre a base da moral confuciana. Ao lado da praga do dinheiro, do McDonalds e de Hollywood, os asiáticos agora foram pegos pelo próprio vírus da “decadência ocidental”.
A Europa e principalmente os Estados Unidos nos revelam hoje que o estágio final de todo capitalismo é a perfeita dissolução da sociedade em indivíduos abstratos e autistas. Há mais de 150 anos, Alexis de Tocqueville já previra que a sociedade moderna acabaria assim. Não é apenas Bob Dole, candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, que evoca ideais pré-modernos para conjurar tal perigo.
Enquanto isso, Francis Fukuyama sai a campo em busca de um socorro para o capitalismo sem peias, olhando de esguelha “determinados aspectos da cultura tradicional” asiática. Seu sonho é um capitalismo “imposto por tradições culturais, e de que brotam fontes não-liberais”: uma suavização do puro mercado por meio do “capital social” de corporações civis beneficentes e de uma “confiança universal recíproca”.
Palavras loucas, ouvidos moucos. Jamais veremos nascer um capitalismo confuciano, piedoso e vegetariano, pois o deus puritano e secularizado do dinheiro em cultura alguma tolera outros deuses ao seu redor. A tese de Weber sobre a escassa compatibilidade capitalista do confucionismo e do budismo manterá provavelmente um lugar de destaque não só na história, mas também no futuro.